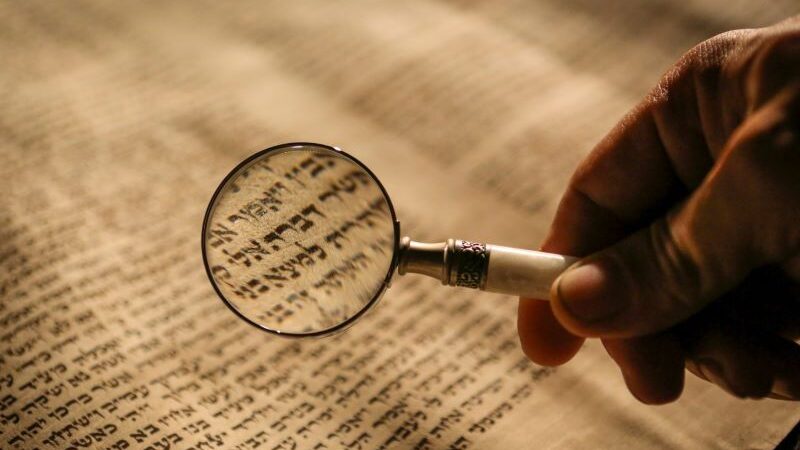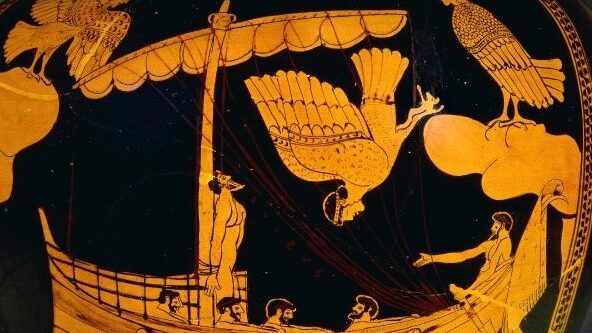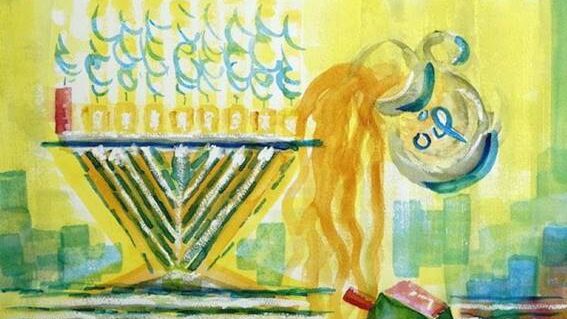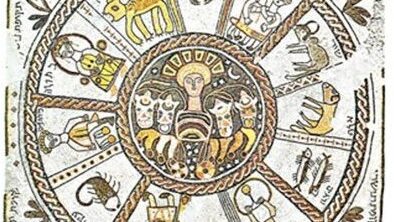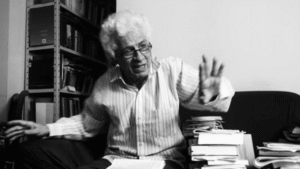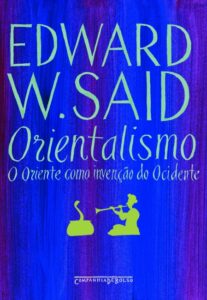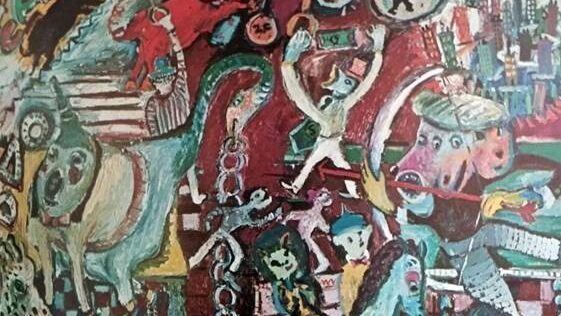
Jay Milder, The Demise of Cain on the IND, 1970, Oil on canvas, 84 x 96
Há, portanto, uma fraternidade prévia da humanidade. E a reunião dessa fraternidade perdida, uma reunião no milagre de Israel e da Revelação, e não numa história dialeticamente deduzida, a realização do encontro na revelação (que é o protótipo de todo encontro) situa toda essa filosofia, inegavelmente, no terreno do judaísmo e é, segundo Buber, a contribuição filosófica da Bíblia que se repete e se redescobre no hassidismo.
O Pensamento de Martin Buber e o judaísmo contemporâneo[1]
Emmanuel Levinas
Filósofo francês de origem lituana. Professor da Sorbonne.
Tradução de Estevan de Negreiros Ketzer
Psicólogo clínico. Doutor em Letras (PUCRS). Email: [email protected].
É difícil abarcar, em cinquenta minutos, o pensamento de Buber, e ainda mais difícil percorrer superficialmente o pensamento judaico contemporâneo, mesmo se excluirmos tudo o que é judaico apenas na origem dos pensadores. Dizemos pensamento e não filosofia. Pois a vida intelectual do judaísmo que permaneceu judaica não se apresenta, e não é julgada, com base em princípios. A exegese de textos, a assunção — como dizemos hoje — da própria história, as questões que surgem para os judeus de hoje a partir da provação que acabaram de vivenciar; a necessidade que sentem de se recompor e se reencontrar; correlacionados a esse problema estão todos aqueles — e não puramente políticos — que são colocados pela existência, futuro e defesa do Estado de Israel; e, finalmente, a explicação com o mundo moderno, transformado tecnicamente em econômica, política, e em busca de um novo equilíbrio religioso — tudo isso alimenta a meditação judaica, que não se limita aos limites de uma alma conversando consigo mesma. Hoje, como sempre, o pensamento judaico é, por excelência, um diálogo com o outro que não consigo em mim mesmo. E esse pensamento, e a imensa obra de Buber na qual se reflete e onde frequentemente toma forma, ela traz ao pensamento rigorosamente filosófico — àquele que é obrigado a fingir que nunca encontrou alguém ou algo que não tenha visto antes — a rica colheita daquilo que nosso amigo, professor De Waelhens, chamou, em um livro recente e notável, de “experiência não filosófica”; uma colheita sem a qual a filosofia seria um pensamento adequado, mas que não teria nada a dizer.
Antes de detalhar a contribuição de Buber para os vários campos do pensamento judaico contemporâneo — e consideraremos apenas alguns deles —, devemos reconhecer o papel que ele desempenhou neles através da própria natureza de sua pessoa e de seu talento. Foi ele quem mostrou ao mundo ocidental que o judaísmo existe como vida e pensamento contemporâneos. Mas foi ele também quem ensinou ao próprio judaísmo que este se revelava novamente lá fora, que estava presente de uma forma diferente da participação de seus intelectuais assimilados e desjudaizados na vida espiritual do Ocidente. Buber foi um dos raros pensadores e escritores judeus que, por meio de uma obra quase inteiramente dedicada a temas judaicos, pertenceu, com extraordinária naturalidade, espontaneidade — e, como dizem os atores, presença — à literatura universal. Essa graça e autoridade, essa facilidade, já estavam em sua pessoa física, assim como em seus escritos. Um pensamento, oriundo de uma meditação sobre fontes judaicas e particularmente sobre o hassidismo[2], abordou todos os problemas do nosso tempo. No alvorecer do século XX, para além de toda teologia e de toda cultura nacional, para além de toda ortodoxia, Buber abordou o judaísmo pós-cristão que, assimilado no Ocidente, se despojou de todo particularismo, o qual na Europa Oriental manteve sua vitalidade e sua própria personalidade, mas se rejeitou o ambiente mundano que o rejeitava, o qual, por tudo o que reteve do judaísmo, foi considerado no Ocidente e no Oriente um anacronismo, um fóssil, uma testemunha no máximo, e em todo caso objeto de estudos históricos e arqueológicos nas universidades (e gostaria de recordar aqui as palavras do Rabino Zunz, fundador do “judaísmo liberal” e desta famosa ciência do judaísmo, que disse: “O judaísmo está morto, mas daremos a ele um funeral magnífico.” Buber abordou o judaísmo pós-cristão como uma civilização viva de admirável maturidade e o estabeleceu como um parceiro pleno no simpósio do Ocidente. Pois, através da civilização judaica, ele falava apenas de questões universais. Todos os estudos realizados desde então na Europa e na América por pensadores judeus, que buscaram ensinamentos em fontes bíblicas, talmúdicas e cabalísticas e que frequentemente renegam Buber, toda essa busca pela verdade e pela doutrina encontrou uma nova linguagem cujos acentos e ressonância Buber havia estabelecido e torna o confronto possível. E é, sem dúvida, a marca indelével deixada pela passagem de Buber que lembrou aos Padres do Concílio que votaram no último, e especialmente no penúltimo, esquema sobre os judeus, que essa sabedoria antiga aprendeu línguas modernas e está pronta, se desejado, para o diálogo[3].
A revelação da espiritualidade judaica ao Ocidente e aos próprios judeus começou com os estudos de Buber, ainda muito jovem, sobre o hassidismo, um movimento religioso que se desenvolveu no século XVII, após o fracasso da aventura do falso Messias, Sabbetai Tzvi. Esse movimento, no qual o sentimento desempenha um papel considerável, é conhecido por sua oposição ao intelectualismo aristocrático do rabinismo. Buber não foi o único a reconhecer a importância desse movimento para o futuro religioso de Israel.
A literatura hebraica e iídiche, e a obra de Peretz, em particular, traduziram a nova sensibilidade do hassidismo em contos atraentes e muito populares. Mas foi Buber quem se encarregou de considerar o hassidismo, fora dos textos cabalísticos que haviam delineado sua teoria, a partir da perspectiva do pensamento ocidental e de buscar na espiritualidade hassídica uma resposta para a própria crise do Ocidente, que Buber vislumbrara antes mesmo das duas guerras mundiais, antes mesmo do nacional-socialismo. O Sr. Gabriel Marcel mostrou-lhe até que ponto essa consciência de crise estava viva em Buber, que, no entanto, era apaixonado pelo Ocidente. Essa crise do Ocidente parecia-lhe dever-se a uma ruptura entre o mundo e Deus, que colocaria em questão tanto a vida secular das pessoas do nosso tempo quanto sua vida religiosa.
Eu me perguntei frequentemente o que tais fórmulas significam se não quisermos nos ater ao seu significado teológico ou teosófico: um mundo sem Deus é, penso eu, um mundo onde, nas palavras de Dostoiévski, tudo é permitido, onde a realidade esgota seu significado em suas aparências e onde é preciso ser “realista”. Um Deus sem mundo é uma vida espiritual sem apego à realidade, uma vida de pura fuga, que deixamos de levar a sério assim que termina o tempo livre que nos concedemos para esta vida. A vocação do homem integral — a vocação do piedoso, do justo ou do perdoado — consistiria, segundo essa concepção do hassidismo, em agir no mundo como se Deus estivesse presente em toda parte, mesmo no imediato e no perceptível; consistiria em servir a Deus, não nas horas de culto elevado, mas em todas as atividades da vida cotidiana. A pessoa humana, o “Eu”, hic et nunc [aqui e agora], imerso em seus problemas e preocupações, seria um meio de santificação. O Eu humano seria a união do profano e do sagrado. Não seria uma substância, mas uma relação. O homem é uma ponte, como disse Nietzsche, uma passagem, uma transcendência. Segundo essa concepção do hassidismo, é preciso sentir nessa presença concreta no mundo uma elevação do mundo, fazer brotar as centelhas do alto que estão adormecidas aqui embaixo, recolhê-las e trazê-las de volta ao ardor original de onde descenderam.
Buber vê, pelo humano, a exaltação de momentos do tempo banal. Como em muitas visões modernas, o homem, ou o Eu, seria essencialmente aquilo que é despertado pelo próprio drama do ser para reunir, reparar, puxar para cima o que caiu. Utilizo a terminologia do próprio Buber para expressar o tema principal de sua interpretação do hassidismo.
Existir, portanto, é reunir a dispersão do sagrado no profano. Não é, de forma alguma, encontrar-se lançado e abandonado no absurdo, como logo pensarão certos filósofos da existência, entre os quais, por outras razões, Buber poderia ter sido incluído, se de fato existissem filósofos tão bem-ordenados.
Tudo isso se aproxima do que Buber ensina em sua filosofia geral, cuja lição mais completa e magistral vocês acabaram de ouvir da boca de Gabriel Marcel. Mas os discípulos eruditos de Buber — hoje me permito não ser inteiramente filosófico — historiadores, e não os menores deles, contestam que essa sabedoria corresponda à mensagem do hassidismo histórico. Algumas palavras devem ser dedicadas a isso. Já dissemos que Buber chamou a atenção do mundo ocidental para o hassidismo e que, ao fazê-lo, contribuiu muito para abolir, na opinião cristã, em particular, o preconceito de que o desenvolvimento do judaísmo parou na época dos Evangelhos. Desde então, os Manuscritos do Mar Morto parecem ser, por algum motivo, mais uma prova de que o judaísmo estava vivo na época em que os Evangelhos so ressuscitaram. Não desejo entrar neste debate como leigo. Não entendo por que a vida do judaísmo, para muitas pessoas, não tem outra prova além das relíquias deixadas às margens do Mar Morto. O mérito de Buber não pode ser questionado. Foi ele quem chamou a atenção do mundo para o judaísmo vivo. Mas aqueles que contestam a autenticidade da interpretação de Buber apontam, em primeiro lugar, que ela é inspirada na lenda hassídica — existe toda uma literatura popular dedicada às vidas e feitos dos rabinos hassídicos — e não nos textos doutrinários que os antecedem.
Gershom Scholem, o grande historiador da Cabala na Universidade de Jerusalém, compara a imagem do hassidismo obtida pelo método buberiano ao que a imagem do catolicismo seria extraída da hagiografia, sem referência à teologia. Buber é ainda criticado por ter selecionado os textos utilizados de acordo com seu próprio pensamento, especialmente por ter sido formado a partir da publicação de Eu e Tu [Le Je et le Tu], e por comprovar sua tese — e este é mais um argumento — à força de uma linguagem poética, patética e perturbadora, mas às vezes obscura, onde as bordas dos conceitos se desvanecem nos efeitos do discurso. Chega de método.
Quanto à substância, o grande erro de Buber teria consistido, após ter afirmado em seus primeiros escritos o parentesco entre a Cabala e o Hassidismo, em afirmar em suas obras posteriores, aquelas que precisamente consolidaram a reputação do Hassidismo em todo o mundo, o quanto o Hassidismo rejeita todos os elementos gnósticos e teosóficos da Cabala para se tornar, na alegria ingênua do crente, a exaltação ao divino do sensível dado hic et nunc [aqui e agora]. Segundo Buber, o Hassidismo “teria despertado em seus adeptos o poder de se alegrar com o mundo como ele é e com a vida como ela é, com uma alegria constante, infalível e inspirada hic et nunc [aqui e agora]”.
Segundo Scholem, o Hassidismo teria se tornado tudo isso em suas formas populares. O ensinamento autêntico do movimento não separa a nova doutrina do conteúdo teológico e formal do Judaísmo tradicional. A indeterminação, a liberdade do crente, como se a vida religiosa fosse uma commedia dell’arte [comédia de arte][4], essa indeterminação e liberdade que Buber coloca na vida hassídica, refletiria a própria filosofia “existencialista” de Buber, onde, à sua maneira, a existência determina a essência. Para Buber, de fato, a vida não é predeterminada. “Indeterminada como a vida” é uma expressão natural para ele. O que importa é a acentuação do momento, a exaltação descrita de forma puramente formal. O professor Scholem aponta que no hassidismo autêntico é bem diferente: o homem é capaz de extrair as centelhas do divino, espalhadas por todas as forças do ser, mas a libertação desse elemento divino é a destruição dessa realidade, dada como ela é, na qual as centelhas estão enterradas. Essa extração de centelhas não seria de forma alguma o dom de saborear o imediato, mas o efeito de uma abstração. A relação com o Eterno através do temporal é um acontecimento mais platônico do que existencial.
Devo, na verdade, mencionar esta crítica, que, do ponto de vista da história das ideias, é certamente importante. Ela talvez afete menos as ideias em sua expressão poética, favorecida por Buber, e onde a formulação não extingue todas as possibilidades sacrificadas nas afirmações doutrinárias que Scholem delas extrai. O estilo fascinante de Buber não passa de uma simples busca por imprecisões e ambiguidades?
Penso também — sem ser muito competente — que a hagiografia sem teologia ainda revelaria algo do catolicismo. É certo que o próprio Buber não viu — é dificilmente concebível — que a exaltação do momento pelo fervor carrega uma intenção negativa em relação a este momento em sua particularidade? Podemos atribuir a Buber uma concepção segundo a qual a exaltação do imediato consiste apenas no abandono vulgar ao sensível e onde os lábios umedecidos pelo vinho aveludado, cujo paladar e as mucosas afetados por seu aroma, não trazem à alma outra exaltação além da embriaguez?
De nossa parte, gostaríamos de tomar a visão de mundo de Buber por si só, mesmo que o adjetivo “hassídico” possa parecer enganoso. Acontece frequentemente, sob um nome falso, a atenção ser atraída para um importante acontecimento interior e esse acontecimento passa a pertencer à interpretação da vida, isto é, à cultura. Momentos transfigurados pelo fervor, segundo Buber — e todos os momentos, segundo ele, se abrem a essa magia natural a ponto de nenhum deles ser mais privilegiado — não são as primaveras constantemente renovadas da duração bergsoniana? Viver religiosamente nunca coincidiu para Buber com viver de acordo com uma religião, mas jamais significou para ele mais do que entusiasmo místico.
Encantada, possuída por um Deus, a alma pessoal se perde. O contato com o divino em momentos exaltados é, para Buber, um encontro, um diálogo, uma abertura aos outros, mas ao mesmo tempo uma presença para si mesmo. O momento não é transcendido no impessoal, mas no interpessoal. As pessoas que falam umas com as outras confirmam sua singularidade e insubstituibilidade. Há a fidelidade de Buber a uma tradição que caracteriza até mesmo o misticismo judaico. O místico nunca fala na segunda pessoa como se tivesse entrado em Deus, como se a mariposa que circulava o fogo tivesse sido queimada pelo fogo. Nunca uma coincidência, sempre proximidade. Eis a resistência do judaísmo a qualquer apoteose do homem, assim como a qualquer encarnação de Deus.
O que encontramos, por outro lado, filosoficamente impreciso em todos esses textos (e creio que isso permanecerá assim até o final da obra de Buber, embora, no final, Buber fale muito menos de Deus) é o próprio termo Deus, emprestado das escrituras e da linguagem religiosa, onde é muito mais claro do que em desenvolvimentos filosóficos. E isso me leva ao segundo aspecto da obra de Buber: sua exegese.
Buber lê a Escritura de uma nova maneira. E já, sua leitura é marcada pela ideia de encontro [Rencontre], que, na realidade, guia sua interpretação do Hassidismo e que é, em última análise, formulada em sua obra filosófica. A exegese de Buber permanece na tradição do liberalismo religioso e não pretende ignorar a crítica bíblica. Mas a novidade é que a crítica não diminui, a seu ver, a autoridade espiritual dos textos, por mais díspares que sejam. Por outro lado, a internalização ou espiritualização desses textos não é, para ele, pretexto para recorrer a generalidades generosas. Por essa dupla razão, sem dúvida, Buber gostava de dizer que sua exegese já era pós-crítica.
Com o ouvido atento, trata-se de ouvir, partindo da articulação arcaica do texto hebraico e retornando às etimologias e às ressonâncias inesperadas dessa etimologia, o significado primitivo do texto. Nisso, encontramos um pouco à maneira de Heidegger. Edmond Fleg, na França, fez uma tentativa semelhante em sua tradução literal e poética dos livros do Gênesis e do Êxodo, mas como o poeta puro que foi, simplesmente traduzindo fielmente — isto é, com arte consumada — as figuras e imagens do texto hebraico. O grande interesse pela tradução da Bíblia que Buber iniciou com Franz Rosenzweig, que continuou sozinho após a morte deste em 1929, e que concluiu há alguns anos em Jerusalém reside nessa busca pelo mistério hebraico do texto traduzido para todas as línguas. Pois é a pesquisa que Buber sugere o seu método. Acreditamos certamente que seu método e seus resultados não esgotam o significado das escrituras, apesar de tantas descobertas espalhadas pela tradução. Mas essas descobertas e o novo estilo que conferem ao texto bíblico são suficientes para transmitir uma nova emoção aos leitores acostumados às traduções clássicas da Bíblia, cujo traço comum — todos os que leem a Bíblia traduzida devem saber disso — próprio do gênio de nossas línguas ocidentais, consiste em interromper por uma escolha a misteriosa ressaca das inúmeras potencialidades dessas palavras antigas e em fixar com muita rapidez o significado de sua proximidade em frases. As próprias palavras são tratadas por Buber como palimpsestos. Trata-se de descobrir, sob a camada de termos convencionais que se tornaram as palavras hebraicas que designam, por exemplo, a Torá, o profeta, o anjo, o sacrifício, o próprio tetragrama, um significado menos desgastado. Buber nunca diz A Torá, mas o ensinamento; nem jamais diz lei, mas ensinamento. A noção de Lei substituiu na mente de todos a ideia muito mais ampla evocada pela palavra ensinamento. Buber diz — e isso talvez seja mais ou menos hábil — para o profeta, o anunciador; para o anjo, o mensageiro; para o sacrifício, ele evoca admiravelmente a ideia de proximidade contida no termo hebraico korban [sacrifício], traduzindo-o como aproximação. O próprio tetragrama, apesar de sua função como substantivo, é traduzido com bastante sucesso e sem surpresas em alemão como Ele está lá. Cada vez que o tetragrama é usado, Buber se esforça para construir a frase de tal forma que, em vez do tetragrama, haja apenas ele está lá. A sintaxe em hebraico não possui as articulações inequívocas que possui em latim, francês e até mesmo alemão. É, em certo sentido, muito mais flexível. Toda uma dimensão do texto hebraico se perde, portanto, na tradução, e é essa dimensão que Buber pretende restaurar por meio da arte da linguagem.
Eu mencionei Heidegger anteriormente: a analogia vai mais longe do que se poderia pensar. Não apenas porque Heidegger trata fragmentos dos filósofos pré-socráticos como bíblicos, versos. Mas lembremos o que Heidegger diz sobre a sintaxe dos pré-socráticos: a associação de palavras sem articulação, longe de representar um estágio inferior de expressão, ainda não alcançado a clareza e a definição da nossa língua, essa simples proximidade, essa não articulação expressa uma densidade já perdida em nossas línguas. Isso é ainda mais verdadeiro para os profetas, os livros da Sabedoria, de toda a Bíblia hebraica, mesmo em suas partes históricas. Na realidade, é preciso aprender hebraico simplesmente para entender que, na Bíblia, uma palavra não se apega à outra.
Graças a Deus, não é a mesma dimensão de Heidegger! Mas um judaísmo — e isso nos explicará muitas coisas na situação atual — que esqueceu, na Europa Ocidental, a leitura da Bíblia baseada em textos rabínicos, que esqueceu o hebraico, que, portanto, não se perturba mais com os mistérios do texto, encontra-se diante de uma Bíblia traduzida como diante de uma paisagem sem horizonte, como diante de um trecho, como diante de certas figuras de Alice no País das Maravilhas que não têm mais profundidade e são como cartas de baralho. Tudo se situa para elas em duas dimensões. Um Deus em projeção! A partir daí, entendemos que os ecos cristãos restauram alguma realidade a esse texto sem sangue. No retorno à consciência da profundidade judaica das Escrituras, a exegese buberiana desempenhou então um papel considerável. Se vemos nisso, no entanto, um convite à pesquisa, e não um resultado, é porque, em um ponto essencial, o empreendimento de Buber permanece aquém da exegese judaica, tal como é realizada em certos círculos de jovens, também eles cansados dos métodos de crítica: Buber retorna ao texto hebraico sem recorrer à literatura rabínica, que representa precisamente a maneira como esse texto foi lido ao longo da história criativa judaica. Um método de leitura talmúdico ou rabínico — quando digo “rabínico”, sempre penso nos rabinos do Talmud — que pode ser definido (acho que isso talvez seja novidade para alguns dos presentes) por uma interiorização permanente da letra, sem que essa interiorização seja alcançada por meio da abstração; uma tentativa que consiste, ao mesmo tempo, em internalizar e preservar em sua totalidade o conteúdo da escritura, extraindo lições de suas próprias contradições.
A própria lei ritual revelará seu significado interior. Um método que conduz a uma visão do judaísmo mais dramática do que a que o Ocidente supõe, mas que, testada por séculos de vida espiritual, é menos dependente de experiência religiosa específica do que aquela que Buber traz. É indiscutível que Buber lê a Bíblia como se possuísse todo o Espírito Santo. Essa experiência particular de cada pessoa é, sem dúvida, exigida pela história da fé, mas a tradição não pode ser apagada diante dela. É a união dessa experiência pessoal e dessa tradição que permite à Bíblia Hebraica reter seu pleno significado.
A interpretação da Bíblia por Buber, referindo-se preferencialmente à etimologia e aos elementos mais arcaicos, e à experiência hassídica relativamente recente, omite a contribuição talmúdica. Nisso, Buber me parece bastante fiel ao Tratado Teológico-Político de Spinoza, que não deu atenção à exegese rabínica. E certamente não se deve subestimar a frutífera contribuição do Tratado Teológico-Político, que separa a Bíblia de qualquer fidelidade à filosofia e insiste no caráter moral de seus ensinamentos, e que encontra um lugar para a palavra de Deus ao lado da filosofia — o livro recente de Sylvain Zac demonstrou isso. Espinosa teria até certo ponto desempenhado um papel positivo na história da fé. É desses elementos morais, cuja riqueza Espinosa, ignorante e desdenhoso da tradição rabínica, não conseguiu apreciar, que, no dia em que o dogmatismo espinosista revelar seu destino perecível, uma filosofia poderá emergir[5]. A descoberta dessa fonte é também a grande contribuição de Buber.
Chego agora à última parte, sobre a qual a apresentação do sr. Gabriel Marcel me poupou de me deter. A justiça e a caridade cuja mensagem a Bíblia transmite encaixavam-se mal até então no raciocínio filosófico usado para a cosmologia, situando Deus em relação ao mundo e colocando Deus, de alguma forma, como um superlativo do ser.
O pensamento filosófico tradicional concentrava-se no ser. Sua presença para o pensamento era a presença de algo, proposto como tema sobre o qual o olhar e o discurso se dirigem. Qualquer presença que não entrasse no tema só poderia ser uma presença imperfeita, ainda marginal, mas capaz, um dia, de se tornar central.
Buber afirmou, e esta é a base de sua filosofia do Outro, que a presença de um interlocutor para Mim não é redutível à presença de um objeto que meu olhar determina e sobre o qual ele faz juízos predicativos. Não que o interlocutor não possa ser considerado tematicamente e se tornar uma base para julgamento, mas que então, precisamente, ele não é mais aquele a quem me aproximo no diálogo, mas aquele que considero como um número em um todo, útil para algum propósito tecnicamente viável.
Nós sabemos que essa relação de presença, irredutível à relação sujeito-objeto, Buber chamou de “Encontro” ou relação Eu-Tu; sabemos também que é por meio dessa relação interpessoal que todo o ser adquire significado para ele. Os problemas do conhecimento e da verdade devem, portanto, remeter ao evento do Encontro e do Diálogo. O Diálogo sempre foi o elemento da filosofia. Ninguém deu mais força a essa palavra do que Buber, mesmo que a ampla circulação que teve desde então a tenha desgastado consideravelmente. Eu e Tu [Le Je et le Tu], publicado após a Primeira Guerra Mundial, traduzido para o francês com prefácio de Bachelard, seguido por toda uma série de obras em estilo rigorosamente acadêmico, reunidas em parte pelo autor sob o sugestivo título A Vida em Diálogo, exerce considerável influência há quarenta anos. Traz uma nova nota à filosofia, em consonância com aquela soada na França pelo Periódico Metafísico de Gabriel Marcel. Os dois filósofos, aliás, desconheciam um ao outro numa época em que pensamentos relacionados os assombravam. O diálogo, desde Platão, tem sido um elemento da filosofia. De fato, é através da fala a violência de cada indivíduo se eleva ao universal, aonde, como violência, é superada. E a filosofia, afinal, busca evitar a violência. Mas o diálogo, assim entendido como a passagem ao universal, delineia o caminho hegeliano o qual nos leva a reconhecer na instituição da lei universal e de um Estado homogêneo sua culminância. E eu acho, de fato, aquilo que o Sr. Gabriel Marcel lhe disse antes sobre o medo de Buber de um Estado que carrega as sementes do Estado totalitário é inteiramente justificado. Porque o essencial, em última análise, para ele — e talvez para nós — não é o Nós, é o Eu-Tu.
O Estado homogêneo, de fato, beira o estatismo totalitário, pela totalidade que abrange. Não seria a universalidade, onde toda violência deve ser absorvida, no Estado homogêneo, através do recurso inevitável à Administração, a única que pode assegurar a identidade dos indivíduos, a fonte de uma nova opressão? Podemos falar de opressão mesmo em um Estado perfeitamente justo, precisamente porque a relação entre o eu e a universalidade que o reconhece, mas o define, passa inevitavelmente por uma administração.
O diálogo, como Buber o concebe, antecede essa universalidade do diálogo político. É um diálogo que, por assim dizer, “entrar no diálogo”. É isso que Platão sempre buscou: se você fala comigo, eu posso convencê-lo, mas como posso forçá-lo a dialogar? Buber busca o diálogo que nos leva ao diálogo. O “Eu” interpelando o “Tu” em vez de considerá-lo como um objeto ou um inimigo é o fato primário. E não é o apagamento jurídico do “Eu” sob a lei universal e anônima do Estado, é o chamado ao “Tu” que nenhum conceito pode abarcar que estabelece uma sociedade e um mundo justos, um mundo messiânico, pondo fim à violência e iluminando toda a inteligência.
Há, portanto, uma fraternidade prévia da humanidade. E a reunião dessa fraternidade perdida, uma reunião no milagre de Israel e da Revelação, e não numa história dialeticamente deduzida, a realização do encontro na revelação (que é o protótipo de todo encontro) situa toda essa filosofia, inegavelmente, no terreno do judaísmo e é, segundo Buber, a contribuição filosófica da Bíblia que se repete e se redescobre no hassidismo.
A relação entre as pessoas e a prioridade da justiça que ela implica, justiça promovida à experiência não apenas moral, mas religiosa, a moral recebendo, como consequência, sua suprema dignidade da heteronomia do encontro; a inteligência se estabelecendo na heteronomia que é a própria relação entre o Eu e o Outro, a filosofia como a própria vida da inteligência onde a ideia adequada não é um princípio, tudo isso aproxima o pensamento de Buber de um certo aspecto do judaísmo. E nunca mais direi, porque não sei resumir o judaísmo, porque não sei, porque não se pode resumir o judaísmo.
É certamente a irredutibilidade da relação “Eu-Tu” do Encontro, a irredutibilidade do encontro a qualquer relação com o determinável e o objetivo, que continua sendo a principal contribuição de Buber ao pensamento ocidental. Ela rege, é claro, sua visão do hassidismo, da Bíblia e sua atitude em relação às questões que lhe são colocadas. Buber lidou extensivamente com questões políticas, relações com o cristianismo, problemas econômicos e educacionais; todos esses problemas sempre retornam à situação do Encontro. Gabriel Marcel disse que essa ideia significa uma verdadeira revolução copernicana no pensamento. Buber afirma encontrar a ideia em Feuerbach. Você ouviu a citação de Feuerbach anteriormente: “Acho que foram Buber e Gabriel Marcel que lhe deram o poder que convida ao pensamento”. Muitas vezes, para Buber, o encontro parece ser a última palavra na análise filosófica. O exemplo preferido de relação e encontro será escolhido onde o encontro ocorre entre seres que não se conhecem. O encontro seria, portanto, para Buber, o ato puro, a transcendência sem conteúdo que não pode ser narrada, uma centelha pura como o instante da intuição bergsoniana, como o quase-nada do bergsoniano Jankélévitch, onde a relação entre consciência e conteúdo diminui ao extremo, atingindo o limite onde a consciência não tem mais conteúdo, mas permanece como um ser penetrante e bordado. Para Buber, os Encontros são momentos deslumbrantes, sem continuidade nem conteúdo. Tudo isso é consistente com o liberalismo religioso de Buber, sua religiosidade, que desde muito cedo se opôs à religião, colocando, como reação ao dogmatismo, o contato acima de seu conteúdo, a presença pura e irrestrita de Deus acima de todo dogma e de toda regra.
A nós nos resta, com Buber, frequentemente a afirmação de um encontro puramente formal, mesmo que se acrescente a palavra responsabilidade. Apesar das repetições, essa palavra parece carecer de vigor, e nada consegue esclarecê-la. Os temas de uma vida livre, aberta e indeterminada sempre retornam. O mesmo se aplica à noção de Deus, desde que se tente esquecer, como filósofo, a Bíblia. A noção de Deus intervém de maneira um tanto incerta como um protótipo de toda expectativa, sem que a dimensão do divino seja fixada.
O Sr. Gabriel Marcel citou os textos mais favoráveis e profundos sobre a relação entre Deus e o homem. Mas ainda tenho a impressão de que se trata de uma transposição da relação com o próximo. Certamente, é muito importante — e nunca poderemos agradecer o suficiente a Buber por isso — que a noção de sagrado não pareça a Buber como determinante da noção de divino. É a partir do diálogo que nos orientamos para o sagrado e não o contrário, enquanto para Heidegger, a noção de sagrado deve apenas nos permitir falar de Deus. Buber é decididamente monoteísta, e suas palavras não dependem de nenhum mundo, nenhuma paisagem, nenhuma língua que fale antes que alguém a fale.
Mas as articulações específicas de pensamento e discurso que se orientam assim para Deus nunca são formuladas.
Nós acreditamos que a obra de Buber merece ser continuada em suas partes mais válidas e inovadoras e que não devemos nos limitar a esse formalismo um tanto romântico de um espiritualismo excessivamente vago. Acreditamos que o formalismo do encontro é estranho ao gênio judaico. Buber protesta violentamente contra a noção heideggeriana de Fürsorge [cuidado], que, para o filósofo alemão, seria o acesso ao Outro. Certamente não é de Heidegger que devemos tirar lições de amor à humanidade ou à justiça social. Mas Fürsorge, como resposta à miséria essencial, acessa a alteridade do Outro. Leva em conta essa dimensão de altura e miséria por meio da qual ocorre a própria epifania do Outro. Miséria e pobreza não são propriedades do Outro, mas modos de sua aparência, seu modo de me ver, seu modo de proximidade. Poderíamos nos perguntar se vestir os nus e alimentar os famintos não nos aproxima do próximo do que o éter onde o Encontro de Buber às vezes acontece. Dizer “Tu” já atravessa meu corpo até as mãos que dão, além dos órgãos da fala. Isso está na boa tradição biraniana[6] e de acordo com as verdades bíblicas. Não se deve ir diante do rosto de Deus de mãos vazias. Também está de acordo com os textos talmúdicos, que proclamam que “dar comida” é algo grandioso e que amar a Deus com todo o coração e com toda a vida é ainda maior quando se ama a Deus com todo o dinheiro. Ah! Materialismo judaico!
O que Buber deixa para nossa meditação do ponto de vista da filosofia geral é a busca pelo próprio modo pelo qual uma presença que não é objetividade, que não é mais uma revelação do ser, pode se apresentar. O encontro indicou uma relação que não desemboca nas formas de consciência às quais somos tentados a reduzir toda presença para nós; e não é fácil rejeitar essas formas. Mas se essas formas de consciência determinassem toda presença, nada mais poderia entrar em nosso mundo. Ora, o encontro é um caso particular de uma presença que não é representação, que é absolutamente reta, a mais reta que existe, a própria retidão, e ainda assim não é tematizada; que a esfera imanente pode ser rompida, que uma proximidade irredutível pode perturbar a ordem, este é certamente o grande tema que a filosofia de Buber nos traz. Que além da ausência e da presença, que talvez remontem à tematização, à objetivação e à ontologia, podemos escapar do mundo ou do ser, e que além do ser e dos seres podemos nos aproximar ou ser aproximados, este é o tema de uma pesquisa que não coloca Deus como um ser muito grande nem como um Outro humano maior que qualquer próximo, mas que busca, antes de falar de Deus, expressar proximidade, descrever de onde vem a voz e como o traço é desenhado.
Tradução realizada da edição francesa: LEVINAS, Emmanuel. La pensée de Martin Buber et le judaïsme contemporain. In: Hors Sujet. Paris: Fata Morgana, 1987, pp. 15-33.
[1] La pensée de Martin Buber et le judaïsme contemporain. Texte d’une communication, paru dans: “Martin Buber. L’homme et le philosophe”, Bruxelles, Institut de Sociologie de l’U.L.B. 1968 [N. do T.].
[2] Vertente mística do judaísmo ortodoxo, galgado nos ensinamentos do rabino Israel ben Eliezer (1698 – 1760), conhecido como Baal Schem Tov [N. do T.].
[3] Levinas faz menção aos concílios ecuménicos da Igreja Católica, sendo o Concílio Vaticano I (1869-1870) e o Concílio Vaticano II (1962-1965). A lembrança aqui não é fortuita, vista a amizade que o Papa João Paulo II, Karol Józef Wojtyła, estabeleceu com Levinas [N. do T.].
[4] Forma de teatro mambembe criada na Itália durante o século XVI, cujo grande incremento técnico foi a utilização da improvisação teatral, a qual gerava ironia e, por fim, o riso [N. do T.].
[5] As palavras de Levinas parecem proféticas nesse ponto do texto. Ver: BELTRÁN, Moquel. The Influence of Abraham Cohen de Herrera’s Kabbalah on Spinoza’s Metaphysics. Leiden/Boston: Brill, 2016 [N. do T.].
[6] Escola de pensamento baseada nos ensinamentos de Marie-François-Pierre Gonthier de Biran, mais conhecido como Maine de Biran (1766 – 1824). O filósofo é o pai da escola chamada de espiritualismo francês, por romper com a tradição idealista alemã ao desenvolver na forma de memórias, reflexões e diários o seu trabalho escrito. Através da meditação introspectiva e seus próprios estados físicos e psíquicos, nós chegamos à concepção da consciência com um estado independente dos objetos exteriores a ela [N. do T.].
Estevan de Negreiros Ketzer é Psicólogo clínico (PUCRS). Mestre e Doutor em Letras (PUCRS). Pesquisador nos arquivos do IMEC na França, em 2015. Assessor da Uniritter para a implementação da disciplina de Escrita Criativa ao ano de 2016. Pesquisador do Núcleo de Estudos Judaicos (NEJ) da UFMG. Pós-doutorando em Letras (UFMG).
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/