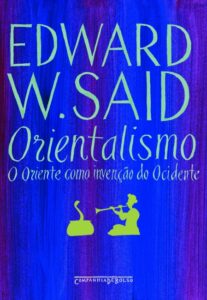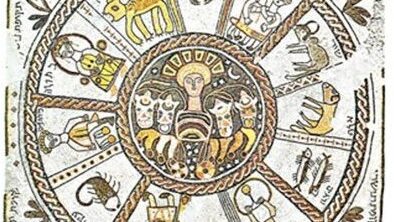
Essa faculdade de criar mitos persiste em seres humanos posteriores, apesar do desenvolvimento da função causal. Em momentos de alta tensão e intensidade de experiência, os grilhões da função causal se desprendem deles. Essa ainda é a natureza da relação do ser humano verdadeiramente vivo com a figura e o destino do herói.
Martin Buber
Filósofo e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém.
Tradução de Estevan de Negreiros Ketzer
Psicólogo clínico. Doutor em Letras (PUCRS).
1.
Não podemos, a princípio, interpretar nosso próprio sentido de mito melhor do que se permitíssemos que Platão, por exemplo, transmitisse o significado da palavra. Descobrimos então que mito significa: um relato de eventos divinos como uma realidade sensorial. Consequentemente, não pode ser chamado de mito se ele tenta narrar eventos divinos como um evento transcendente ou como uma experiência da alma: um discurso teológico, mesmo que seja de simplicidade e grandeza evangélicas, ou um relato de visões extáticas, por mais devastadora que seja sua visibilidade, situa-se fora do âmbito do verdadeiramente mítico.
Esse conteúdo original da tradição linguística é tão profunda e permanentemente justificado que se pode facilmente compreender como ele teve que dar origem à visão de que o poder de criar mitos era exclusivo daqueles povos que viam o divino como uma substância sensorialmente dada e que, portanto, também concebiam suas ações e sofrimentos como um nexo de eventos puramente sensoriais. As pessoas foram além e contrastaram os povos de inclinações politeístas com os de inclinações monoteístas, como os criadores de mitos com os sem mito. O povo judeu era contado entre estes, os povos sem mito, e como tal era glorificado ou desprezado; glorificado se o juiz visse no mito um precursor inferior da religião, desprezado se visse nele o pináculo da humanidade elevando-se acima de toda religião, a metafísica natural e eterna da alma humana. Tais tentativas – geralmente bastante eficazes – de avaliar a essência dos povos em vez de reconhecê-la são sempre tolas e inúteis; especialmente quando, como aqui, se baseiam na ignorância ou distorção da realidade histórica. Ignorância e distorção são, afinal, os pilares do moderno tratamento psicológico-racial do judaísmo; descobre-se, por exemplo, um traço racionalista ou utilitário em algumas declarações ou práticas do judaísmo oficial e afirma-se ter comprovado o racionalismo ou o utilitarismo do judaísmo; sem suspeitar ou querer suspeitar que estas representam apenas estagnações insignificantes, embora poderosas, na grande, mas humilde, torrente de religiosidade popular judaica fervorosa, devota e supraproposital. E os apologéticos judaicos, por outro lado, cujo zelo patético é demonstrar que o judaísmo não é nada especial, mas apenas pura humanidade, fazem o mesmo à sua maneira: porque eles próprios estão presos na corrupção do racionalismo e do utilitarismo. Assim, por muito tempo, ambos os lados negaram a existência de mitos no judaísmo. Isso não foi difícil. A essência da escrita pós-bíblica permaneceu desconhecida por muito tempo: a Agadah era considerada uma fantasia ociosa ou um pedaço superficial de parábolas, o Midrash uma coleção sutil e improdutiva de comentários, a Cabala uma manipulação numérica sem sentido e grotesca, o hassidismo mal era conhecido pelo nome ou descartado com um gesto de desdém como um entusiasmo mórbido. Mas a Bíblia também pode parecer a alguns pesquisadores honestos como se tudo o que fosse mítico lhe fosse estranho; de fato, ela foi trazida à forma em que chegou até nós por um grupo inspirado pelo espírito do sacerdócio judaico oficial tardio, o qual considerava a fonte nutridora de toda a verdadeira religiosidade, o mito, como o inimigo hereditário da religião como a concebia e desejava e, portanto, até onde sabia, eliminou tudo o que era mítico da riqueza dos escritos tradicionais. Felizmente, esse conhecimento deles não era completo, e muito lhes escapou, cujo caráter original não lhes era mais presente. Assim, veios dispersos desse metal precioso são encontrados em todos os livros da Bíblia. Quando foram descobertos por novas pesquisas, a existência do mito judaico não pôde mais ser negada; mas sua independência passou a ser contestada. Quando um motivo mítico relacionado era encontrado em outro povo do Oriente Próximo, era proclamado como o original, e o judeu, uma cópia; e quando nenhum era encontrado, presumia-se simplesmente que o original havia sido perdido. Não há necessidade de perseguir essas trivialidades aqui (que surgem do desejo profundamente enraizado, mas desesperado, dos ocidentais contemporâneos de desjudaizar seu cristianismo, ao qual não podem renunciar); pois o que é infinitamente mais essencial do que refutá-los individualmente: toda a concepção de história que os torna possíveis em primeiro lugar é uma aberração monstruosa. É uma abordagem perversa e presunçosa considerar um inventário ciclópico como os mitos de um povo da perspectiva lamentavelmente efêmera da chamada originalidade. Quando o espírito está diante de nós, não é a originalidade que conta, mas a realidade; E as obras do espírito não estão aí para que dissequemos e examinemos os produtos da análise para ver se aparecem aqui pela primeira vez — esse “pela primeira vez” só pode ser concebido pela mente débil, que não tem a mínima noção da história infinita do espírito e de suas formações eternamente novas a partir do mesmo material eterno — as obras do espírito estão aí para serem recebidas, vivenciadas e veneradas como um todo formado, como uma forma única, como uma realidade. E tal realidade é o mito dos judeus, tal como somos capazes de reconstruí-lo por nós mesmos, apesar de todos os ataques judaicos e antijudaicos. Ele pode ter todos os tipos de “motivos” em comum com os de outros povos, e dificilmente será possível determinar verdadeiramente quais deles se baseiam na migração de um povo para outro — como todos os povos, os chamados produtivos e os chamados receptivos, experimentam o dar e o receber — e quais, por outro lado, se baseiam na semelhança de espécies que existiam ou existem entre os judeus e esses outros povos: a semelhança das formas de experiência e das formas de expressar o que foi vivenciado, mas também a semelhança da terra e do destino: a semelhança do conteúdo da experiência. Isso, eu digo, provavelmente nunca será totalmente determinado. Mas isso não é essencial para nós, as gerações posteriores, mas sim a pureza e a grandeza da humanidade criativa, que joga tudo isso, como Cellini com todos os seus utensílios domésticos, na fornalha e a partir dela constrói a figura imortal.
Simultaneamente à Bíblia, os escritos judaicos tardios também se tornaram objeto de novas pesquisas, embora não na mesma extensão. E embora neles, como na Bíblia, a prevalência de elementos hostis ao mito, ao rigor da lei e à dialética rabínica seja evidente e limite a expressão, não se pode deixar de descobrir uma riqueza de material mítico. O que havia sido considerado um comentário arbitrário sobre passagens bíblicas provou ser uma criação e transformação do folclore mais antigo; tradições lendárias, que se tentaram suprimir durante a edição do cânone, floresceram aqui com riqueza primitiva; uma transmissão de segredos sagrados, passados de boca a ouvido e novamente de boca a ouvido através das gerações, e ainda assim uma renovação incessante, culminando até mesmo na grande reescrita no espírito do misticismo judaico. Assim como os teóricos raciais antijudaicos não podiam mais sustentar a ficção de que não havia mito judaico depois que os elementos míticos da Bíblia se tornaram conhecidos, a apologética judaica racionalista não podia mais sustentar a ficção de que não havia mito judaico depois que os elementos míticos dos escritos pós-bíblicos se tornaram conhecidos. Portanto, embarcaram em um novo caminho: agora distinguiam entre um judaísmo negativo, mitológico, e um judaísmo positivo, monoteísta; rejeitavam o primeiro como obstrução e obscurecimento, celebravam o segundo como a verdadeira doutrina; sancionavam a luta do rabinismo contra o mito como a purificação progressiva de um conteúdo ideológico significativo e, por assim dizer, se colocavam nessa luta. Um renomado estudioso judeu próximo a essa escola, embora se proponha objetivos maiores do que a apologética, David Neumark, formulou essa visão na frase: “A história do desenvolvimento da religião judaica é, na verdade, a história das lutas pela libertação contra sua própria mitologia e contra a mitologia estrangeira, antiga e recém-inventada.” Esta frase contém uma verdade, mas é expressa de forma tão partidária que seu conteúdo de verdade parece obscuro. Queremos esclarecê-la e dar à frase uma formulação mais justa: “A história do desenvolvimento da religião judaica é, na verdade, a história das lutas entre a estrutura natural da religião popular mítico-monoteísta e a estrutura intelectual da religião rabínica racional-monoteísta.” Eu disse: a religião popular mítico-monoteísta; pois não é de todo verdade que monoteísmo e mito se excluam mutuamente e que um povo com inclinação monoteísta não teria, portanto, o poder de criar mitos. Em vez disso, todo monoteísmo vivo está repleto do elemento mítico, e somente enquanto permanecer assim estará vivo. No entanto, em sua busca cega por “segregar” o judaísmo, o rabinismo se esforçou para estabelecer uma crença em Deus “purificada” do mito; mas o que conseguiu foi um homúnculo miserável. E esse homúnculo era o eterno exilado, ele governava os clãs dos Galut[1]; sob sua tirania, a força viva da experiência judaica de Deus, o mito, teve que se trancar na torre da Cabala, ou se esconder na roca das mulheres, ou fugir dos muros do gueto para o mundo: era tolerado como doutrina secreta, ou desprezado como superstição, ou banido como heresia. Até que o chassidismo o colocou no trono, o trono de um breve dia; de onde foi lançado para vagar, como um mendigo, através de nossos sonhos melancólicos. E, no entanto, é a ele que o judaísmo deve sua unidade mais íntima em tempos de perigo. Não foi Joseph Karo, mas Isaac Luria quem verdadeiramente consolidou e definiu o judaísmo no século XVI, não o Gaon de Vilna, mas o Baal Shem que, no século XVIII, por elevar a religião popular a um poder em Israel e renovar a personalidade do povo a partir das raízes de seu mito. E se é tão difícil para os judeus libertos de nossa geração fundir sua religiosidade humana com seu judaísmo em uma unidade, isso é culpa do rabinismo, que emasculou o ideal judaico; mas se o caminho para a unidade ainda está aberto para nós, e se nos é concedido aperfeiçoar nossa humanidade, ao mesmo tempo em que conquistamos nossa identidade nacional e, venerando o divino de acordo com nossos próprios sentimentos, ouvir as asas do espírito judaico voando sobre nossas cabeças, então o poder sublime de nosso mito nos alcançou.
2.
Se agora desejamos reconhecer a essência do mito judaico monoteísta e, assim, ao mesmo tempo, obter uma compreensão mais profunda da essência do mito em geral, é nosso dever examinar a origem do monoteísmo judaico como se revela a nós na Bíblia. Descobriremos então três camadas que podemos distinguir claramente. Dessas três camadas histórico-religiosas — que não devem ser confundidas com as camadas histórico-textuais da crítica bíblica moderna — a primeira se encontra sob o nome de Elohim, a segunda sob o nome de Javé, e a terceira usa ambos os nomes para indicar um ser divino verdadeiramente sem nome em sua dupla aparência como Deus universal e como Deus popular; e cada uma dessas camadas tem sua mitologia específica; dentro delas, o mito judaico é construído.
O nome “Elohim” geralmente aparece na Bíblia no singular, mas é inconfundível que originalmente era plural e significava algo como “os poderes”[2]. Nós encontramos numerosos vestígios dessa multiplicidade de deuses que não se diferencia em várias formas individuais de natureza e vida pessoal, mas representa, por assim dizer, uma pluralidade de forças cósmicas distintas em essência, mas unidas em ação, um agregado de poderes criativos, preservadores e destrutivos, uma estranha e incomparável nuvem de deuses movendo-se pela Terra, deliberando consigo mesma e tomando decisões por conta própria[3]. Pode-se apontar manifestações relacionadas entre outros povos; mas todas essas são divindades secundárias, divindades auxiliares — nada mais pode ser comparado ao monopluralismo monumental do mito dos Elohim. Seu desenvolvimento posterior também é único. Dentro da multiplicidade dos Elohim, emerge uma força dominante, um ser principal portador de nome, que se apodera de um poder cada vez maior e, finalmente, adornado com a insígnia mítica de um antigo deus ancestral, destaca-se como um governante independente: Javé… ainda se canta: quem é como Javé entre os filhos dos deuses? Logo, porém, ele lidera consigo os poderes que antes eram seus companheiros como uma hoste de servos, com a qual também completa seu nome: Javé da hoste dos poderes, Javé Tsebaot. Finalmente, o Elohim se reduz a um mero atributo: Javé Elohim é chamado de Único; mas mesmo em seus outros nomes, como Shaddai, a antiga polidemonia persiste. E mesmo muito mais tarde, quando já foi elevado ao absurdo, às vezes fala como se ainda estivesse falando com a multidão primordial de deuses.
Javé é o herói divino de seu povo, e os hinos antigos, preservados para nós como se fossem de uma época geológica anterior, espalhados nos escritos proféticos, em Jó e nos Salmos, louvam seus feitos vitoriosos, cada um deles um verdadeiro mito: como ele esmagou o monstro do caos e, em meio ao júbilo das estrelas da manhã, baixou os pilares da terra para as profundezas.
E agora intervém aquela tendência suprema do judaísmo que se contenta com nenhuma entidade unificada, mas progride de cada uma para uma unidade mais elevada e perfeita, e expande este Javé cósmico-nacional no Deus do universo, o Deus da humanidade, o Deus da alma. Mas o Deus do universo não pode mais permanecer à noite sob as árvores do seu paraíso, e o Deus da humanidade não pode mais lutar com Jacó até o amanhecer, e o Deus da alma não pode mais queimar no espinheiro ileso. O Javé dos profetas não é mais uma realidade sensorial; e as antigas imagens míticas em que ele é glorificado são meras parábolas de sua inefabilidade. Assim, os racionalistas parecem agora ter razão, afinal, e o mito judaico ter chegado ao fim. Mas este não é o caso. Até porque, milhares de anos depois, o povo não havia realmente aceitado a ideia de um Deus que não pudesse ser experimentado pelos sentidos. Mas, acima de tudo, porque os racionalistas definem o conceito de mito de forma muito restrita e limitada.
Começamos chamando de mito o relato de eventos divinos como uma realidade sensorial. Mas nem Platão nem nosso sentido linguístico entendem essa definição da mesma forma que os racionalistas a entendem: como se apenas a narrativa das ações ou sofrimentos de um deus dado como substância sensorial pudesse ser chamada de mito. Em vez disso, este é o seu significado: que devemos chamar de mito qualquer narrativa de um evento sensorial real que o perceba e o apresente como um evento divino e absoluto.
Para compreender isso com total clareza, devemos mais uma vez buscar o geral e perguntar como o mito surge.
3.
O conhecimento de mundo do homem “civilizado” é sustentado pela função de causalidade, pela observação dos processos mundiais em um contexto empírico de causas e efeitos. Somente por meio dessa função é possível a orientação, a busca pelo próprio caminho nos infinitos eventos; ao mesmo tempo, porém, o significado da experiência individual é enfraquecido, pois, assim, ela é apreendida apenas por meio de sua relação com outras experiências, não completamente em si mesma. No homem primitivo, a função da causalidade ainda é bastante fracamente desenvolvida. Ela é quase eliminada em relação a eventos que representam uma esfera na qual não está ao seu alcance penetrar por investigação, repetição e verificação, como sonhos e morte; e a pessoas que intervêm em sua vida com um poder demoníaco dominante que ele não consegue compreender por analogia com suas próprias habilidades, como o mágico e o herói. Ele não situa esses eventos em um contexto causal como os incidentes menores de sua época; ele não situa os feitos dessas pessoas na cadeia de eventos como os seus e os de seus confidentes; ele não os registra com equanimidade erudita como o usual e compreensível, mas, ao contrário, sem o impedimento de sua função causal, ele os absorve em sua particularidade com toda a tensão e fervor de sua alma e os relaciona não a causas e efeitos, mas ao seu próprio conteúdo, ao seu significado como expressões do significado indizível e impensável do mundo, apresentado apenas neles. Disso surge o empirismo inadequado e a certeza proposital do primitivo diante de experiências tão elementares, mas, ao mesmo tempo, também seu elevado sentimento pela irracionalidade da experiência individual, por aquilo que não pode ser compreendido a partir de outros processos, mas só pode ser percebido a partir da própria experiência, por sua significância como sinal de uma conexão secreta, supracausal, pela perceptibilidade do Absoluto. Ele situa os processos no mundo do Absoluto, do Divino: ele os mitifica. Seu relato deles é a narrativa de um evento sensorialmente real, que ele percebe e apresenta como um evento divino, absoluto: é mito.
Essa faculdade de criar mitos persiste em seres humanos posteriores, apesar do desenvolvimento da função causal. Em momentos de alta tensão e intensidade de experiência, os grilhões da função causal se desprendem deles, por assim dizer: eles reconhecem os eventos do mundo como tendo um significado supracausal, como a expressão de um significado central, que, no entanto, não pode ser apreendido com o pensamento, mas apenas com o poder aguçado dos sentidos e a vibração fervorosa de toda a pessoa, como uma realidade tangível dada em toda a sua multiplicidade. Essa ainda é a natureza da relação do ser humano verdadeiramente vivo com a figura e o destino do herói; eles são capazes de situá-los em um contexto causal e, ainda assim, mitificá-los, porque a contemplação mítica lhes revela uma verdade mais profunda e completa do que a contemplação causal e, assim, lhes revela primeiro a figura amada e feliz em seu ser mais íntimo.
Assim, o mito é uma função eterna da alma.
É agora estranho e significativo observar como essa função atende à perspectiva fundamental da religiosidade judaica e como, ainda assim, encontra nela um elemento essencialmente diferente e transformador: como, por assim dizer, o mito judaico representa uma continuidade histórica por natureza e, ao mesmo tempo, possui seu próprio caráter distintivo, estranho a outros mitos, especialmente ocidentais.
A perspectiva fundamental da religiosidade judaica e o cerne do monoteísmo judaico, tão amplamente incompreendido e tão cruelmente racionalizado, é a contemplação de todas as coisas como expressões de Deus, de todos os eventos como uma manifestação do Absoluto. Enquanto para o outro grande monoteísta do Oriente, o sábio indiano, como ele se apresenta a nós nos Upanishads, a realidade sensorial é uma ilusão que deve ser abandonada para se entrar no mundo da verdade, para o judeu, a realidade sensorial é uma revelação do espírito e da vontade divinos. Portanto, para o sábio indiano, como posteriormente para o platônico, todo mito é uma metáfora; para o judeu, é um relato verdadeiro da manifestação de Deus na Terra. O antigo judeu não pode narrar de outra forma senão miticamente: porque, para ele, um acontecimento só vale a pena ser narrado quando apreendido em seu significado divino. Todos os livros narrativos da Bíblia têm um conteúdo: a história dos encontros de Javé com seu povo. E mais tarde, quando ele passa da visibilidade da coluna de fogo e da audibilidade do trovão sobre o Sinai para a escuridão e o silêncio do insensato, essa continuidade da narração mítica não se interrompe; Javé certamente não pode mais ser percebido, mas todas as suas manifestações na natureza e na história podem ser percebidas. A partir delas, constrói-se o tema infinito do mito pós-bíblico.
Já fica claro, pelo que foi dito, o que chamei de característica especial do mito judaico. Ele não abole a causalidade, apenas substitui a causalidade empírica por uma causalidade metafísica, uma conexão causal entre eventos vivenciados e a essência de Deus. Isso não se refere apenas ao sentido de que são causados por Deus, mas sim à concepção inversa, mais profunda e frutífera, que se desenvolve cada vez mais: a da influência do homem e de suas ações no destino de Deus. Essa visão, que desde cedo encontra uma forma tanto ingênua quanto mística e que atinge sua expressão máxima no hassidismo, ensina que o divino dorme nas coisas e só pode ser despertado por aquele que as recebe em consagração e se santifica nelas. A realidade sensorial é divina, mas deve ser realizada em sua divindade por aquele que verdadeiramente a experimenta. A glória de Deus está confinada em segredo; ela jaz aprisionada na base de cada coisa e é redimida em cada coisa pelo homem, que, por meio da visão ou da ação, liberta a alma dessa coisa. Assim, cada pessoa é chamada a determinar o destino de Deus com sua própria vida; assim, todo ser vivo está profundamente enraizado no mito vivo.
Essas duas concepções correspondem às duas formas básicas nas quais o mito judaico se desenvolveu: a lenda dos feitos de Javé e a lenda da vida do ser humano central, plenamente realizado. Uma segue o curso da Bíblia, de modo que uma segunda, por assim dizer, uma Bíblia lendária, espalhada em incontáveis escritos, formou-se em torno do corpo das Escrituras; ainda assim, muitos fragmentos da história posterior e muitas narrativas cronologicamente não localizadas também a seguem. A segunda forma básica fala primeiro de algumas figuras bíblicas, especialmente aquelas figuras misteriosas negligenciadas no texto canônico, como Enoque, que foi transformado de carne em fogo e de mortal em Metatron, o Príncipe da Presença Divina. Em seguida, narra, em escopo cósmico, as vidas dos homens santos que governaram o mundo interior, de Yeshua de Nazaré a Israel, o filho de Eliézer, o Baal Shem. O primeiro representa, por assim dizer, a conexão eterna; o segundo, a renovação eterna. O primeiro nos ensina que somos condicionados; o outro, que podemos nos tornar incondicionados. Um é o mito da preservação do mundo, o outro, o da redenção do mundo.
Traduzido do alemão em: BUBER. Martin. Der Mythos der Juden. In: GROISER, David (ed.). Martin Buber Werkausgabe 2.1: Mythos und Mystik Frühe religionswissenschaftliche Schriften. München: Gütersloher Verlagshaus, 2013, pp. 171 – 179.
[1] Galut é a diáspora judaica fora das fronteiras da Terra Santa, a qual diz respeito a dispersão das doze tribos de Jacó, provavelmente começado a partir o domínio Assírio no século VII a. C. [N. do T.].
[2] Elohim é lido como um plural majestático, tal como o “vossa alteza” em português. “Os poderes” ou os “deuses”, quando reunidos em Um (echad) dão o sentido de realeza, o que nos leva a pensar em um período particular do rabinato impresso na Bíblia, inclusive um período mitológico, em que Elohim era entendido como “poderes da natureza”, diferindo assim da forma posterior encontrada no termo Adonai, escrito na forma do tetragrama Javé, o qual é traduzido como “Senhor”, uma vez que se perdera a sonoridade das vogais em Javé por respeito ao nome sagrado [N. do T.].
[3] Neste ponto, posso apenas apontar os resultados; qualquer pessoa que leia o texto bíblico imparcialmente e compreenda o significado das palavras hebraicas originais facilmente juntará as evidências.
Estevan de Negreiros Ketzer é Psicólogo clínico (PUCRS). Mestre e Doutor em Letras (PUCRS). Pesquisador nos arquivos do IMEC na França, em 2015. Assessor da Uniritter para a implementação da disciplina de Escrita Criativa ao ano de 2016. Pesquisador do Núcleo de Estudos Judaicos (NEJ) da UFMG. Pós-doutorando em Letras (UFMG).
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/