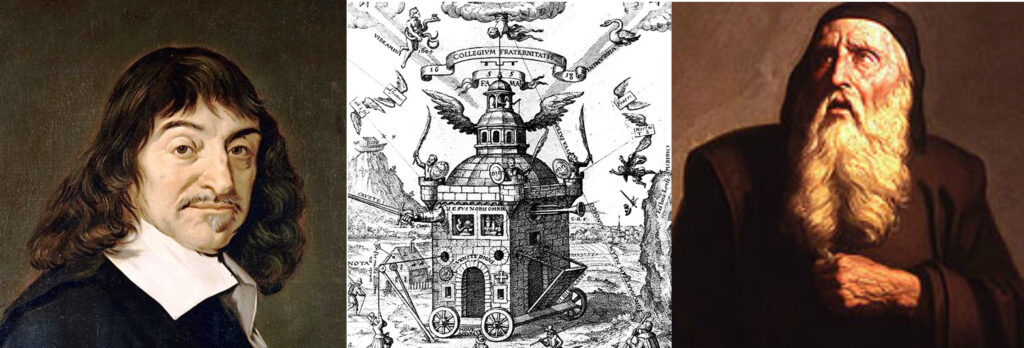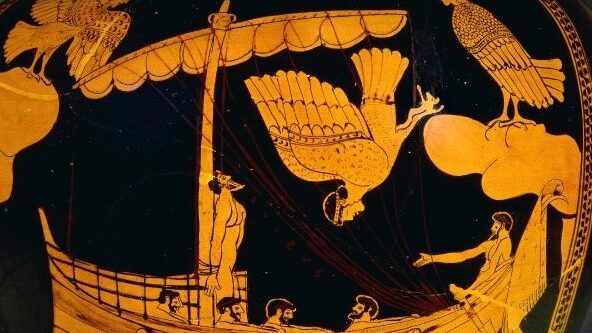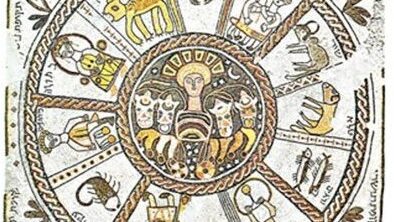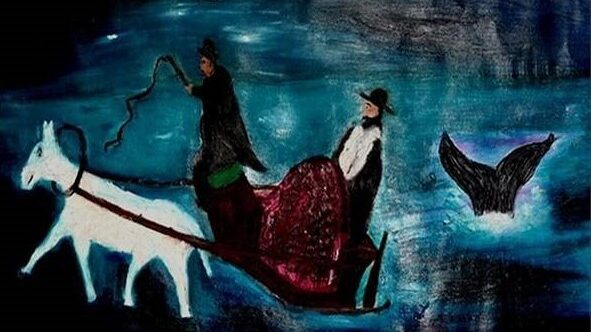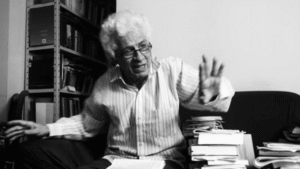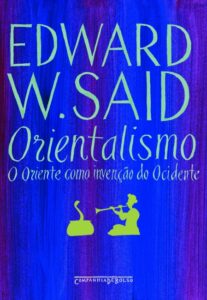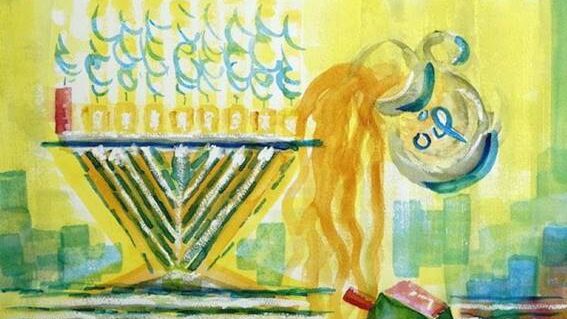
Mas onde quer que outro povo encontre sua salvação, para o povo judeu ela não se revela em nenhum outro lugar senão na força viva à qual seu povo sempre esteve ligado e pela qual existiu: não em sua religião, mas sim em sua religiosidade.
Martin Buber
Filósofo e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém.
Tradução de Estevan de Negreiros Ketzer
Psicólogo clínico. Doutor em Letras (PUCRS).
A religiosidade judaica não é, como muitos acreditam, um objeto de dignidade especial, mas sim de relevância insignificante para a chamada “solução para a Questão Judaica”. Em vez disso, é, como sempre, agora, para o judaísmo o único objeto de relevância absoluta, a força motriz de seu destino, o juiz de seu destino, a força cujo reacendimento o reviveria e cuja extinção completa o condenaria à morte. Renovação do judaísmo significa, na verdade: renovação da religiosidade judaica. Pode-se, sem se preocupar com a religiosidade judaica, desejar, exigir e proclamar a dissolução do judaísmo; pode-se, sem se preocupar com isso, desejar, exigir e proclamar a “preservação”, isto é, a dissolução imperceptível do judaísmo; mas não uma renovação do judaísmo. Quem anseia por isso, deseja que haja novamente um judaísmo vivo com todos os sentidos, ativo com todas as forças, unido em uma comunidade sagrada; Ele reconheceu que não há outro caminho para isso a partir do presente da existência judaica senão através da renúncia e de um novo começo. Para aqueles que anseiam por uma renovação do judaísmo a partir de tal vontade e tal percepção, quanto mais ativo for o seu anseio, mais claramente se tornará evidente que uma renovação do judaísmo significa uma renovação da religiosidade judaica.
Digo e quero dizer: religiosidade. Não digo e quero dizer: religião. Religiosidade é o sentimento eternamente novo, eternamente renovando-se, eternamente se expressando e se formando, atônito e adorador do homem de que além de sua condicionalidade e ainda emergindo de dentro dela, existe algo incondicional, seu desejo de entrar em comunhão viva com ela, e sua vontade de realizá-la por meio de suas ações e estabelecê-la no mundo humano. Religião é a soma de costumes e ensinamentos nos quais a religiosidade de uma determinada época de um povo se expressou e se desenvolveu, fixada em preceitos e dogmas, transmitida como irrevogavelmente vinculativa a todas as gerações futuras, independentemente de seu desejo por uma nova forma de religiosidade. A religião é verdadeira enquanto for frutífera; mas é isso enquanto a religiosidade, tomando sobre si o jugo de preceitos e dogmas, for capaz — muitas vezes sem perceber — de preenchê-los com um significado novo e fervoroso e de transformá-los interiormente, de modo que apareçam a cada geração como se tivessem sido revelados a ela hoje, para satisfazer suas próprias necessidades, estranhas a seus antepassados. Mas se os ritos e dogmas de uma religião são tão rígidos que a religiosidade é incapaz de movê-los ou não quer mais se submeter a eles, então a religião se torna estéril e, portanto, falsa. É, portanto, a religiosidade o princípio criador, a religião o princípio organizador; a religiosidade recomeça com cada jovem abalado pelo mistério; a religião busca forçá-los a uma estrutura estabilizada e definitiva; religiosidade significa atividade – uma relação elementar com o Absoluto –, religião significa passividade – uma aceitação da lei tradicional; a religiosidade tem apenas seu objetivo, a religião tem propósitos; a partir da religiosidade, os filhos se levantam contra os pais para encontrar seu próprio Deus; a partir da religião, os pais condenam os filhos porque eles não permitiram que seu Deus lhes fosse imposto; religião significa preservação, religiosidade significa renovação.
Mas onde quer que outro povo encontre sua salvação, para o povo judeu ela não se revela em nenhum outro lugar senão na força viva à qual seu povo sempre esteve ligado e pela qual existiu: não em sua religião, mas sim em sua religiosidade. Um dito do Baal Shem expressa isso: “Dizemos ‘Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó’, não dizemos ‘Deus de Abraão, Isaque e Jacó’, para que se possa dizer a vocês: Isaque e Jacó não se basearam na tradição de Abraão, mas sim buscaram eles mesmos o divino.”
Tentarei extrair a essência distintiva da religiosidade judaica dos escombros com os quais o rabinismo e o racionalismo a cobriram.
O ato que tem aparecido ao judaísmo ao longo da história como a base essencial de toda religiosidade é o ato de decisão como a realização da liberdade e da incondicionalidade divinas na Terra. O antigo ditado judaico: “O mundo foi criado para a escolha de quem escolhe” é meramente a formulação madura de uma ideia que, sem formulação, já era viva e essencial nos tempos bíblicos. Assim como a série de mandamentos do Sinai se inicia com o chamado a uma decisão exclusiva e incondicional pelo Único, as maiores palavras de Moisés atendem à mesma exigência: “Estarás inteiramente com Javé teu Deus” e “servirás Javé teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma”; e os profetas proclamam a mesma coisa a partir de Elias, que diz ao povo: “Até quando vacilareis entre duas opiniões?” Os escritos pós-bíblicos desenvolvem a ideia de forma cada vez mais concisa. A Mishná interpreta as palavras “Amarás a Deus de todo o teu coração” como significando: com os teus dois impulsos, o impulso “bom” e o impulso “mau”; isto é, com e por meio da decisão, de modo que o fervor da paixão se transforma e entra na ação única com toda a sua força; pois nenhum impulso é mau em si mesmo, mas o homem o torna assim quando se submete a ele em vez de governá-lo. O Midrash faz Deus falar ao homem: “Tornas-te má a paixão que foi entregue em tuas mãos”. Assim, as palavras do salmista: “Que meu coração seja íntegro em tuas leis”, são interpretadas como Davi dizendo a Deus: “Não deixes que o impulso maligno me divida, mas santifica meu coração”. E ainda mais enfaticamente, diz: “Somente se fores indiviso” (isto é, se tiveres superado a dualidade interior por meio da decisão), “terás parte em Javé teu Deus”. Mas a preguiça, a falta de decisão, é descrita como a raiz de todo o mal; o pecado nada mais é do que preguiça. Quem esteve sujeito a ela, mas depois escapou através da mais tremenda decisão, quem afundou no abismo da divisão e abriu a partir dela um caminho para a unidade, quem se tomou em suas mãos como um pedaço inerte de terra e se moldou em um ser humano, é o mais amado de todos por Deus; ou, como expressa a Guemará, “no lugar onde se encontram aqueles que se arrependem, os perfeitamente justos não podem se encontrar”. A grande decisão é o momento mais elevado, o momento divino da vida humana, na verdade, de toda a vida do mundo; “Melhor”, diz a Mishná, “é uma hora de arrependimento neste mundo do que toda a vida do mundo vindouro”; pois este último é apenas ser, enquanto o primeiro é o gigantesco devir. Pecado não significa livre, isto é, autodeterminado, mas sim um viver não livre, efetuado, condicionado; aquele que se volta acende o mistério da liberdade, ele se eleva da condicionalidade para a incondicionalidade, ele está, como diz o Zohar, “vivo em todos os lados e unido na Árvore da Vida”.
Ninguém conhece o abismo da dualidade interior como o judeu, mas ninguém como ele conhece o milagre da união, que não se pode acreditar, mas apenas pode ser experimentado. Portanto, nada realizado pode satisfazê-lo, mas apenas a ação que recomeça com cada nova pessoa, a própria realização. Este é o significado do dualismo judaico: que cada indivíduo luta de suas profundezas e trevas pela liberdade divina e incondicionalidade: nenhum mediador pode ajudá-lo, nenhuma ação pode facilitar sua ação, pois tudo depende precisamente do poder penetrante de seu ataque, e toda ajuda, toda “conexão” só pode enfraquecer esse ataque. Portanto, o movimento cristão primitivo tornou-se infrutífero para o judeu quando transformou a proclamação verdadeiramente judaica de Jesus, de que todos podem se tornar filhos de Deus por meio da vida incondicional, na doutrina de que somente a fé no Filho Unigênito de Deus pode conquistar a eternidade para o homem. Portanto, o chassidismo estava fadado a perder seu efeito renovador nacional ao substituir aquela conexão imediata com Deus, na qual o homem “alcança a raiz de todos os ensinamentos e mandamentos, ao Ser de Deus, a simples unidade e ilimitação, onde descem todas as asas dos mandamentos e leis”, porque se elevou acima de todos eles por meio de sua incondicionalidade – ao substituir essa autolibertação milagrosa pela mediação do tzadik. A visão fundamental da religiosidade judaica está contida no ditado: “Quando uma pessoa se purifica e se santifica, o Espírito Santo se derrama sobre ela.”
Falsifica-se o significado do ato de decisão no judaísmo se o tratarmos como meramente ético; é um ato religioso, ou melhor: é o ato religioso; pois é a realização de Deus através do homem. Ao compreender essa compreensão, distinguem-se três camadas da religiosidade judaica, em cuja sucessão se revela o desenvolvimento daquele judaísmo subterrâneo, que, secreta e reprimido, é o verdadeiro, o procriador, em contraste com o pseudojudaísmo oficial que reina sem vocação e se apresenta sem legitimidade.
Na primeira, mais antiga camada, o ato de decisão é entendido como uma realização de Deus por meio da imitação, como uma imitação de Deus [imitatio Dei]. Deus é a meta do homem, o ser original, cuja imagem ele deve se esforçar para se tornar, pois “Deus criou o homem à sua imagem”, ou seja, para que ele se tornasse tal imagem. Fundamental para essa compreensão é o versículo do Livro de Levítico: “Sereis santos, porque eu sou santo, o Senhor vosso Deus”. É interpretado como: “Como eu sou separado” — isto é, como eu sou separado. Determinado por nada, livre de todo condicionamento, agindo de dentro de mim mesmo. – “Eu sou, então sereis separados”; e ainda diz: “Como Deus é um e único, assim será um o vosso serviço.” Deus é um; portanto, o homem deve superar suas divisões e tornar-se um. Deus é incondicional; portanto, o homem deve libertar-se dos grilhões do condicionamento e tornar-se unificado. Essa visão é transmitida de forma mais simples e convincente em um dito de Abba Saul; em uma explicação de um verso do cântico de Moisés no Mar Vermelho (“Este é o meu Deus e eu o louvarei”), ele disse: este é o meu Deus – eu e ele; isto é: eu quero ser como ele. Mas que não há outra maneira de alcançar isso senão a da decisão e da incondicionalidade é demonstrado pelo mito da Queda: os seres humanos presumiram ser “como Deus” e, assim, frustraram o sentido da vida, que consiste em tornar-se como Deus; assim, eles não alcançaram nada além do conhecimento da dualidade do divino e do humano, o “conhecimento do bem e do mal”.
Na segunda camada, o ato de decisão é entendido como uma realização de Deus por meio da ampliação de sua realidade. Deus é tanto mais real quanto mais é percebido pelo homem no mundo. Uma formulação paradoxal, mas imediatamente comovente, dessa ideia é a interpretação do misterioso rabino Shimon bar Yochai, invocando as palavras de Isaías: “Vós sois minhas testemunhas, diz Javé, e eu sou Deus”: “Se sois minhas testemunhas, eu sou Javé, e se não sois minhas testemunhas, eu não sou Javé”. Deus é a meta do homem; assim, todo poder de decisão humana deságua no oceano do poder divino. Nesse sentido, o versículo do salmo “Dai poder a Deus” é explicado pelo ditado: Os justos aumentam o poder do poder superior. Posteriormente, especialmente os escritos cabalísticos desenvolveram a ideia de que o ser humano que age incondicionalmente é parceiro e auxiliador de Deus na obra eterna da criação, de muitas maneiras diferentes. Assim, o Bahir chama o Justo de um pilar que se estende da terra ao céu e sustenta o universo. Assim, o Zohar explica as palavras do salmista: “As obras de suas mãos… são feitas com verdade e integridade” através da influência do ser humano que atua de forma verdadeira e honesta na criação do mundo; e a frase “Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra” é explicada ali como significando que não houve trabalho de cima porque não houve ação de baixo; mas então “um vapor subiu da terra, e a superfície da terra foi irrigada”, isto é, através da ação de baixo, o trabalho de cima ocorreu.
Finalmente, na terceira camada, que aparece pela primeira vez na Cabala, o conceito da realização de Deus através da humanidade se intensifica na ideia do efeito da ação humana no destino de Deus. A Glória de Deus, a Shekhiná, caiu no mundo dos condicionados; ela está, como Israel, em dispersão, na Galut; Ele vagueia e erra como Israel, derramado no reino das coisas; deseja ser redimido como Israel, deseja se reunir com o Ser Divino. Mas somente aquele que eleva o condicionado em si ao incondicionado pode realizar isso; por meio dele, a elevação do mundo se realiza, isto é, a elevação da Shekhiná. Portanto, um ditado chassídico fala daqueles que se arrependem: “Eles redimem Deus”. E assim como na entrada da alma no corpo humano, o Rei, Deus, inclina-se em amor para a Rainha, a Shekhiná, assim também, na conquista do condicionado pela alma arrependida e renascida, a Rainha eleva-se em amor para o Rei; por meio dessa união de amor, o ser é eternamente renovado. “Assim, a vida cresce de cima para baixo, a fonte é eternamente preenchida, o mar é eternamente preenchido e tudo é nutrido.”
Comum a todos os três estratos, e inerente à religiosidade judaica, é a visão do valor absoluto da ação humana, que não pode ser mensurada com a escassa compreensão das causas e efeitos terrenos. Em qualquer ação humana, o infinito flui, o infinito flui dela. Não cabe ao agente compreender de quais poderes ele é o emissário, de quais poderes ele é o motor, mas ele deve saber que a plenitude do destino do mundo passa por suas mãos em conexões inomináveis. Afirma-se na Guemará: “Todos devem dizer: Por minha causa o mundo foi criado”; e novamente afirma-se: “Todos devem dizer: O mundo se sustenta sobre mim”; um texto chassídico afirma: Sim, ele é o único no mundo, e sua existência depende de sua ação.
Na incondicionalidade de sua ação, o homem experimenta a comunhão com Deus. Somente para o indolente, o indeciso, o que deixa acontecer, o que se envolve em seus próprios propósitos, Deus é um ser desconhecido além do mundo; para aquele que escolhe, o decisivo, o inflamado por seu objetivo, o incondicional, ele é o mais próximo, o mais familiar, o que ele mesmo eternamente realiza e experimenta novamente por meio de suas ações, e precisamente nisso, o mistério dos mistérios. Se Deus é “transcendente” ou “imanente” não é uma questão para Deus; é uma questão para o homem. A respeito do relato do Gênesis de como os três homens chegam a Abraão “no calor do dia”, o Zohar observa: “Quando o mundo inferior arde com o desejo pelo superior, este último desce a ele, e ambos os mundos então se unem e se permeiam no homem.” As palavras do salmo podem ser explicadas no mesmo sentido: “Deus está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com a verdade”; isto é, com a verdade que praticam.
Com a verdade que realizam. Essa verdade não é um “o quê”, mas um “como”. Não é o conteúdo da ação que a torna verdade, mas sim se ela ocorre na condicionalidade humana ou na incondicionalidade divina. Não é a questão da ação que determina se ela ocorre na antecâmara, no reino das coisas, ou se penetra no Santo dos Santos, mas sim o poder da decisão que a produz e a consagração da intenção inerente a ela. Toda ação, mesmo aquelas consideradas entre as mais profanas, é sagrada se for realizada em santidade, em incondicionalidade.
A incondicionalidade é o conteúdo religioso específico do judaísmo. A religiosidade judaica não se baseia em um dogma ou preceito ético, mas em um sentimento fundamental que dá sentido à vida humana: o sentimento fundamental de que uma coisa é necessária. Onde a religiosidade trabalha para construir comunidade, para estabelecer a religião, onde ela insere a vida do indivíduo na vida entre as pessoas, esse sentimento fundamental torna-se uma demanda. A fundação da religião judaica, todas as suas origens criativas, estão sob o signo dessa demanda e da luta por ela.
Quando Moisés, com o fogo da sarça espinhosa nos olhos, aparece diante dos anciãos de Israel, já se sente que tudo o que acontecerá está predeterminado. Não conheço nenhum acontecimento maior na história ou no mito mundial, nenhum mais terrível. O povo se afastou daquilo que ainda não conseguia compreender – os filhos de Levi, a mando de Moisés, passam pelo acampamento e matam três mil de seus irmãos. A geração que parte não pode suportar as provações do deserto – deve perecer no deserto. Na destruição de tudo o que é indiferente e inadequado, o Deus proclamado se revela como o fogo consumidor da incondicionalidade.
Já aqui, os dois principais tipos humanos, entre os quais a história interna do judaísmo se desenrola como uma luta, aparecem lado a lado e um contra o outro: o profeta e o sacerdote. Moisés é o exigente, que só ouve a voz e só reconhece a ação. Arão é o mediador, que é tão acessível às vozes quanto à voz, e que, através de seu serviço governante de formas, indisciplina o povo. O profeta quer a verdade, o sacerdote quer o poder. Esses são tipos eternos na história do judaísmo. Na luta, a religiosidade judaica, a partir do espírito de Moisés, tornou-se religião; na luta, ela deve renovar-se continuamente em meio à religião, cujas restrições formais ameaçam sufocá-la, deve tentar continuamente derreter a massa rígida com suas demandas fervorosas. Ela nunca consegue arrancar o domínio do judaísmo oficial, das instituições prevalecentes; mas sempre influencia, aberta ou secretamente, profundamente o desenvolvimento do espírito nacional. Às vezes, eleva a religião a uma vida nova e mais elevada. Às vezes, ele rompe o tecido da comunidade. Às vezes, ele se desintegra após um breve florescimento. A história do judaísmo nos dá um exemplo representativo de cada uma dessas possibilidades.
O culto sacrificial de Israel pode ter surgido da necessidade primitiva de uma comunhão viva com Deus por meio do ato sacramental, como uma refeição comunitária; certamente, um sentimento completamente diferente logo se impôs: a necessidade de uma devoção que pudesse simbolicamente representar e representar a entrega verdadeiramente desejada e pretendida. Sob a liderança do sacerdote, no entanto, o símbolo se torna um substituto. O culto sacrificial é elaborado e codificado de tal forma que, em cada situação da vida humana, em cada momento do destino humano, um sacrifício prescrito está disponível para estabelecer a conexão com Deus, e essa conexão, por sua vez, consiste em nada mais do que o sacrifício. Não é mais necessário, quando o sofrimento nos oprime ou o próprio pecado nos aterroriza, lutar, render-nos e apegar-nos a Deus na tempestade da decisão, até que o clamor da criatura se silencie diante da voz secreta; oferece-se o sacrifício, faz-se o que se ordena, e o deus é apaziguado. Certamente, o culto sacrificial a Javé, com sua pretensão à verdade, contraria a idolatria diversa entre o povo, e até mesmo Elias não conhece outra maneira de dizer isso senão que luta por Javé e contra Baal; mas se um serviço é idolatria ou adoração não é determinado pelo nome pelo qual se invoca o próprio Deus, mas pela forma como se o serve. Esta é a grande intuição dos profetas posteriores, que começaram a falar ao povo um século depois de Elias. Em palavras de paixão imperativa, Amós e Miquéias, Isaías e Jeremias rejeitam a “abominação” do culto sacrificial e exigem a verdadeira adoração: “justiça”, isto é, vida incondicional com Deus e com a humanidade. A mensagem dos profetas compartilha suas disposições substantivas, suas normas morais, com os ensinamentos de outros povos; A única coisa judaica nele é o sopro de incondicionalidade que o permeia, o postulado de decisão que ressoa em cada palavra e até mesmo no ritmo exigente de suas frases: sua religiosidade. Qualquer construção de uma “ética pura” do judaísmo é fundamentalmente falha; este é o cerne do judaísmo, onde o incondicional é uma face velada de Deus que busca ser revelada em atos humanos.
Os profetas queriam destruir o culto sacrificial. Eles foram incapazes de diminuir seu domínio; o sacerdote manteve a liderança. E, no entanto, eles renovaram a religiosidade judaica, a alma da nação; assim, invisivelmente, as vitórias do espírito são alcançadas.
No Segundo Império, uma nova instituição religiosa assume o centro do palco: a Escritura. Ela é gradualmente canonizada como a expressão estabelecida da religião do Estado. Da riqueza do material tradicional, entidades subservientes ao sacerdócio separam tudo o que parece mítico ou suspeito. Assim, surge o livro, que doravante abrange a única escritura válida; torna-se tão exclusivamente válido que todos os livros não incluídos no cânone perecem. Mas ele triunfa não apenas sobre o restante da escritura, mas também sobre a vida. A Escritura é doravante a verdade; só se pode alcançar Deus aderindo à Escritura em tudo. No entanto, ela é tratada pelo padre, e mais tarde pelo escriba, originalmente mais liberal, não como uma proclamação a ser moldada na vida e preenchida com novo significado, mas como um estatuto, uma soma de regulamentos, formalmente definidos pelo padre, dialeticamente elaborados pelo escriba, mas sempre estreitos, rígidos e pouco livres, não promovendo, mas suprimindo a religiosidade viva. Essa tendência do judaísmo oficial dá origem, por um lado, a uma contraposição mais mediadora dentro de seu próprio campo, cuja expressão literária tardia encontramos na hagadá, e, por outro, a uma contraposição mais radical na comunidade essênia, que agora se separa do movimento que a cerca, culminando, em última análise, no cristianismo primitivo. O que se diz dos terapeutas se aplica a ambos em sua relação com a Escritura: toda a legislação lhes parece comparável a um ser vivo, cujo corpo são as palavras, cuja alma é o significado oculto; nisto, a alma humana contempla a si mesma. Ambos apontam para sua interioridade, em contraste com a externalização que havia sido imposta à Escritura. E o movimento cristão primitivo também não se volta contra a Escritura – como os profetas se voltaram contra o culto sacrificial –, mas contra sua mudança do incondicional para o condicionado; ele busca restaurar o Pathos da demanda. Mas nenhum desses movimentos conseguiu renovar a religião judaica: hagadá, não porque tenha trabalhado apenas fragmentariamente e não unido suas forças; nem o essenismo, porque se rendeu a um isolamento infrutífero e não se esforçou pelo povo. Mas o cristianismo primitivo se perdeu para uma renovação do judaísmo quando se tornou infiel a si mesmo
e estreitou a grande ideia que o havia sustentado, a ideia da conversão a qual conquista a Deus, em uma união graciosa com Cristo: então, conquistou as nações e abandonou o judaísmo, destruindo a estrutura de sua comunidade. O cristianismo desde então ascendeu ao domínio sobre as nações, enquanto o judaísmo afundou na ossificação, degradação e degeneração; mas seu núcleo manteve inabalavelmente sua pretensão de ser a verdadeira Igreja, a fiel comunidade da imediatez divina.
Desde a destruição de Jerusalém, a tradição tem estado no centro da vida religiosa judaica. Uma cerca foi construída em torno da lei com a intenção de manter afastado o estrangeiro e o perigoso, mas também frequentemente impedia a entrada de uma religiosidade vibrante. A religiosidade certamente requer formas para se manifestar em uma comunidade de pessoas, para formar e manter uma comunidade — para existir como religião; pois somente em formas de vida compartilhadas é possível uma comunidade religiosa duradoura, transmitida de geração em geração. Mas se a religião, em vez de vincular as pessoas à liberdade em Deus, as mantém sob a lei imutável e condena seu desejo de liberdade; se, em vez de considerar suas formas como o vínculo sobre o qual a verdadeira liberdade pode ser construída, as considera como o vínculo que exclui toda liberdade; se, em vez de conceder à lei seu caráter grandioso e primordial, a transforma em uma massa fervilhante de fórmulas e permite que a decisão sobre o certo e o errado degenere em sutil casuística: então não se trata mais da formação, mas da escravização da religiosidade. Esse processo caracteriza a história da tradição judaica. A contraposição à religiosidade assume duas formas. Uma é a rebelião dos hereges, que irrompe de uma era para outra, frequentemente combinada com poderosos movimentos messiânicos que agitam todo o povo. A segunda é a atividade constante e construtiva do misticismo judaico, que se esforça para animar o ritual rígido por meio da ideia de kavaná, a intenção, e para dar a cada ato religioso um significado secreto voltado para o destino de Deus e a salvação do mundo. Na Cabala mais antiga, essa tendência ainda contém um elemento teológico-alegórico que a impede de se tornar popular. Somente na Cabala luriânica posterior ela se torna diretamente emocional, e no chassidismo ela se transforma em um grande movimento popular. Este não quer diminuir a lei; quer torná-la viva, elevá-la do condicionado de volta ao incondicionado: todos devem se tornar, através da vivência verdadeira, uma Torá, uma lei, para si mesmos. A partir do chassidismo, a religiosidade judaica poderia ter sido renovada como nunca antes. Mas denunciado, caluniado e denunciado pelo judaísmo oficial, e degenerado pela fraqueza do povo, que ainda não estava à altura da determinação de seus ensinamentos, ele se desintegrou antes de concluir seu trabalho.
O que todos os três movimentos, o profético, o essênio-cristão primitivo, o cabalístico-chassídico, têm em comum o fato de não visarem facilitar a vida humana, mas sim torná-la mais difícil, enquanto, ao mesmo tempo, é claro, avivá-la e abençoá-la. Comum a todos é o impulso de restaurar a decisão como o poder determinante em toda a religiosidade. Através da rigidez do culto sacrificial, através da rigidez das escrituras, através da rigidez da tradição, a livre decisão é suprimida nos seres humanos; não é a ação nascida da decisão, respirando incondicionalidade, que é considerada o caminho para Deus, mas sim o cumprimento dos preceitos. O profetismo, o cristianismo primitivo e o chassidismo, no entanto, refletem sobre a decisão como a alma da religiosidade judaica e a convocam.
Este é o significado eterno desses movimentos para o judaísmo; este é o seu direito à nossa lealdade que não pode ser diminuído de forma alguma. Isso nos torna importantes para o trabalho de renovação: não de onde se originaram, mas de onde vieram, não das formas, mas das forças. Estas são as forças que nunca alcançaram forma adequada no judaísmo, nunca alcançaram domínio, que sempre foram suprimidas pelo judaísmo oficial, isto é, pela impotência sempre reinante. Não são forças de eras nacionais e setores do povo, não são forças de rebelião e sectarismo, são as forças que lutam a batalha espiritual do judaísmo vivo contra a falta de liberdade, são as forças eternas. Somente delas pode advir a revolta religiosa, sem a qual nenhuma renovação do povo judeu pode ter sucesso.
Religiosidade, eu disse, é o desejo humano de entrar em comunhão viva com o incondicional, e a vontade de realizá-lo por meio de suas ações e estabelecê-lo no mundo humano. A verdadeira religiosidade, portanto, não tem nada em comum com os sonhos de corações sonhadores, nem com a autoindulgência de almas estetizantes, nem com os jogos profundos de uma intelectualidade praticada. A verdadeira religiosidade é uma ação. Ela busca moldar o incondicional na substância da terra. O rosto de Deus repousa invisivelmente no bloco do mundo; ele deve ser trazido à tona, esculpido. Trabalhar nele significa ser religioso, nada mais. Essa tarefa nos é atribuída de forma mais íntima e direta na vida da humanidade, que está aberta à nossa influência como nenhuma outra coisa no mundo. Aqui, como em nenhum outro lugar, uma multidão nos é dada para formarmos em unidade, uma vasta massa informe na qual devemos moldar a forma divina. A comunidade da humanidade é uma obra preexistente que nos aguarda; um caos que devemos ordenar, uma diáspora que devemos reunir, um conflito que devemos reconciliar. Mas só podemos fazer isso se cada um de nós, no seu lugar, na esfera natural da nossa convivência com a humanidade, fizer o que é certo, o que une, o que molda: porque por meio dele, Deus não quer ser acreditado, nem debatido, nem defendido, mas realizado.
Traduzido do alemão em: BUBER. Martin. Jüdische Religiosität. In: GROISER, David (ed.). Martin Buber Werkausgabe 2.1: Mythos und Mystik Frühe religionswissenschaftliche Schriften. München: Gütersloher Verlagshaus, 2013, pp. 204 – 214.
Estevan de Negreiros Ketzer é Psicólogo clínico (PUCRS). Mestre e Doutor em Letras (PUCRS). Pesquisador nos arquivos do IMEC na França, em 2015. Assessor da Uniritter para a implementação da disciplina de Escrita Criativa ao ano de 2016. Pesquisador do Núcleo de Estudos Judaicos (NEJ) da UFMG. Pós-doutorando em Letras (UFMG).
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/