
A história da revelação mostra como a divindade guardiã se revela aqui como tal. Assim que tal história circula, toda a tradição anterior é absorvida e absorvida pela nova tradição, que é fixada no tempo, e doravante o poço é o poço do Deus vindouro.
Martin Buber
Filósofo e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém.
Tradução de Estevan de Negreiros Ketzer
Psicólogo clínico. Doutor em Letras (PUCRS). Email: [email protected].
Nós encontramos no início do Decálogo todos os três grandes artigos de fé, os quais estão em parte no Cântico de Débora e em parte no discurso de Josué: a liderança acompanhante de Deus, a devoção “amorosa” do povo e a zelosa exigência de decisão. Será que estes também podem ser encontrados nas histórias dos patriarcas?
De fato, os encontramos aqui também; mas é claro que nas histórias dos patriarcas esses artigos de fé não aparecem na vida de uma nação, mas na vida pessoal, vida que não deve ser chamada de a-histórica, mas pode ser chamada de pré-histórica no sentido exato da palavra.
Deus tira Abraão de sua casa e de sua terra, o leva a uma terra que Ele quer “mostrar” a ele (Gen 12, 1) e “conduzindo-o por toda a terra de Canaã” (Josu 24, 3), Ele promete ser “seu escudo” (Gen 15, 1). Assim também Deus caminha com Jacó em todas as suas jornadas (28, 15; 31, 3) e, finalmente, desce com ele ao Egito (46, 4). A divindade dos contos patriarcais também é uma divindade que lidera. E aquele que é conduzido é dedicado a Ele com fé (15, 6), “vai” ao som de Seu chamado (12, 4) para o teste final, no qual lhe é exigido que devolva a Deus o que lhe foi prometido e dado, e “vai” novamente em silêncio (22, 3) para cumprir o que lhe foi imposto. Aqui temos uma explicação de por que o profeta anônimo de uma era tardia (Is 41, 8) retorna a esta frase do Decálogo e do Cântico de Débora sobre os “amantes” de Deus, e a usa para descrever Abraão. Aqui também, nas histórias patriarcais, prevalece a atmosfera de decisão; o ponto principal do discurso de Josué, sua ordem para que as divindades estrangeiras fossem removidas (Josu 24, 23), retorna aqui e é repetido (Gen 35, 2) palavra por palavra.
Encontramos aqui algum tipo de “projeção” de um “ideal nômade”[1] de tempos posteriores para tempos anteriores nessas imagens de pastores errantes, cuja divindade se juntou a eles para escoltá-los? Não seria antes a verdadeira fé nômade original? Mas há algo mais aqui também que não vimos. Quando os patriarcas param em suas jornadas, plantam uma árvore ou erguem uma coluna ou um altar e invocam sobre eles um nome divino. Às vezes, eles invocam o nome de YHVH e também outro nome composto do nome semítico mais comum para a divindade, El, juntamente com um nome suplementar, por exemplo, El-beth-el (“Deus de a casa de Deus”, 35, 7) ou El-olam (“Deus do tempo oculto”, 21, 33). É verdade que conhecemos essa ação também pela história de Moisés, que invoca (Êxodo 17, 15) sobre um altar YHVH-nissi (“YHVH meu padrão”), e pela história de Gideão, que invoca (Juízes 6, 24) sobre um altar YHVH-shalom (“YHVH-paz”) — é notável que não encontramos tais casos depois disso — mas o epíteto “El” é peculiar apenas à narrativa patriarcal. Muitos críticos veem neste e em certos outros fatos semelhantes os resquícios de uma “religião El“, que foi substituída nos dias de Moisés pela fé em YHVH; eles sustentam que “os narradores anteriores das histórias do Gênesis não sabiam nada, nem desejavam saber nada sobre YHVH”[2].
Para refutar essa afirmação, deve examinar a medida da verdade histórica na visão bíblica da vinda dos “pais”, a vinda de Abraão a Canaã. A oração designada para a entrega das primícias ao santuário começa (Deut 26, 5) com um verso memorial aliterativo: “Um arameu desgarrado foi meu antepassado.” Aqui temos a linguagem de pastores escondidos em meio a uma oração de trabalhadores rurais. O agricultor, regozijando-se com as bênçãos enviadas por Deus à terra, conta suas origens humildes como pastor: assim como uma ovelha se desgarra do rebanho (Jer 50, 6; Ezek 34, 4, 16; Ps 119, 176), assim o antepassado se desgarrou de sua família. Se olharmos para este versículo memorial em si (e é obviamente anterior ao restante da oração), vemos que o ancestral mencionado aqui não é Jacó, como está implícito no restante da oração, mas Abraão[3]. “Ovelhas perdidas”, diz a passagem de Jeremias, “meu povo tem sido, seus pastores os fizeram errar”. Abraão usa a mesma palavra (Gen 20,13; esta frase também é um resquício deixado de lado no meio de uma história, que do ponto de vista literário é posterior) quando fala de sua vida ao rei filisteu: “E aconteceu que quando Deus me fez errar da casa de meu pai.” Assim, ele conta como a mão de Deus o dominou. Lembramos como o primeiro profeta escritor diz ao sacerdote (Am 7,15) que antes Deus o havia tirado de seu ambiente: “E YHVH me tirou de trás do rebanho.” Mas a fala de Abraão soa mais antiga, mais antiga até do que a própria história do envio (Gen 12), não apenas na linguagem, mas também no conteúdo: seu pastor o havia desencaminhado. E Abraão sabe, no entanto, que esse ato de fazer errar também é uma orientação; ele confia (15, 6), e em sua confiança ouve a declaração: “Eu sou YHVH, que te tirou de Ur[4].” A declaração, que aparentemente se origina de uma parte muito antiga da história, reflete a abertura do Decálogo, exceto que na história de Abraão a palavra enfática “teu Deus” está ausente, e no lugar do enfático “Eu” (anokhi) com o qual YHVH no Decálogo inicia Seu contato direto com o povo, aqui o pronome inefável (ani) é usado, dando continuidade ao contato próximo. Assim como a ordem a Jacó para remover os deuses estrangeiros antecipa a ordem ao povo dada por Josué, a forma pessoal precedendo a coletiva, assim, aqui, a revelação ao indivíduo antecipa a revelação a Israel. Aqui, YHVH expressa algo que aparentemente é estranho às tradições contidas na narrativa até este ponto: a saber, que não apenas a segunda jornada independente de Harã a Canaã, mas também a primeira, a de toda a família de Ur a Harã, foi obra Sua. Toda a Hégira de Abraão é um ato “religioso”.
Que hipótese podemos formular a respeito do conteúdo histórico de tudo isso, seu conteúdo na história da religião? Há algum? Pode haver algum? Se há, qual é aproximadamente sua natureza?
Aqui, dependemos de uma investigação tateante. Mas aquilo com que nos deparamos dessa maneira tem uma forma material definida.
Como uma onda da migração semítica que ocorreu no final do terceiro milênio e início do segundo milênio a.C. para o norte e oeste sobre as estepes sírias, vemos a família dos filhos de Terá com seus companheiros viajando, numericamente provavelmente como uma pequena tribo, de Ur, centro da cultura do sul da Babilônia, para Harã, no norte da Mesopotâmia. Seminômades, eles viajam com seus rebanhos e manadas, armam e armam suas tendas de pasto em pasto, entre um e outro, fazendo uma estadia temporária, cultivando a terra ano após ano, mas também trocando mercadorias com os moradores da cidade e, às vezes, acampando perto dos portões. Homens de paz, eles estão, no entanto, prontos para a batalha como um só homem, como é o costume aceito neste tipo economicamente superior, no qual há uma fusão de virtudes pastorais e militares[5]. Os filhos de Terá viajam de um centro de cultura para outro, perto do qual se estabelecem.
As duas cidades, Ur e Harã, são os centros do culto à lua babilônica-síria. O nome Harã, onde Terá morreu, significa caminho, também caravana, e denota provavelmente “o lugar onde as caravanas se encontram e de onde partem em suas jornadas”[6]. O deus-lua de Harã também era chamado de Bel-Harã, e temos o direito de entender isso como significando senhor do caminho. Na hinologia, o deus-lua é designado pelo nome de “líder”. É ele quem “aponta o caminho da caravana, que ilumina seu caminho à medida que avança, a fim de evitar o brilho do sol durante toda a noite sobre as estepes”, o “deus dos nômades da Mesopotâmia”[7]. Nas margens do Nilo, era aparentemente o deus-sol Amon, considerado o deus do caminho, e que transmitiu aos seus emissários uma imagem chamada “Amon do caminho” como um representante celestial[8]; nas margens do Eufrates, era o deus-lua que desfrutava dessa posição. Pode-se conjecturar que esse deus tinha entre os multidão de deuses da Babilônia, certos assistentes, pelo menos ouvimos[9] de Ur sobre uma pequena deusa, cuja função especial era proteger os errantes no deserto.
Parece-me um fenômeno singular na história da religião, que um dia, no passado distante, um certo arameu errante — a tradição bíblica o chama de Abrão — abandonou a fé que havia recebido de seu ambiente, a fé no “planeta do caminho para a raça semítica viajante”[10] e adquiriu, em vez disso, a fé em Um, que não era um “deus da natureza”. Esta era uma divindade guardiã; não um fetiche familiar, mas uma grande divindade guardiã, oculta e ainda assim manifesta, uma divindade guardiã não de todos os filhos de Terá, mas da sua própria, de Abrão, e de sua nova família “perdida”, e de todos aqueles ligados e unidos a ele. Um Deus que acompanha aqueles que Ele guarda, não apenas nas noites de luar, mas também nas noites sem luar, e em dias de inverno também, naquela época do ano em que os viajantes das estepes mesopotâmicas preferem viajar durante o dia. Um Deus, cuja luz não se extinguirá. Um Deus, em quem os homens confiam, porque Ele se dirige a eles por palavra e os chama. Ele é um Deus que diz ao homem que o está conduzindo.
Mas para onde o está conduzindo? Não para o lugar para onde o homem desejava ir. O Deus guarda como Ele mesmo deseja, e Ele conduz o homem para onde Ele deseja. Ele conduz o homem para onde Ele o envia. Ele traz Abraão em segurança para Harã. Aqui o homem se estabelece, desejando permanecer, mas Deus deseja o contrário. Ele envia o homem mais longe, o conduz mais longe — da casa do pai para uma terra estrangeira, para a terra estrangeira que Ele lhe prometeu. Ele faz deste homem um nômade da fé.
Se quisermos fixar na história da fé a hora da revelação a Abraão, não podemos dizer que ela ocorreu em Harã, mas antes disso, como sugere o chamado de Deus na antiga história — o núcleo fundamental do Gênesis 15 — sobre a aliança das Partes (v. 7). Mas a hora da decisão ocorre em Harã. Somente aqui este Deus se revela como Aquele que gera, quando ordena a separação do mundo dos pais. Os profetas de Moisés a Jeremias O reconheceram posteriormente dessa maneira. Também aqui, porém, não temos nada a ver com a “projeção” da experiência profética posterior, mas sim com seu início simples e precoce. Gerar pertence à natureza deste Deus, bem como a liderança.
Toda a Hégira de Abraão é um evento “religioso”, mas o segundo estágio o é em um sentido especial. A fé se torna algo estabelecido pela necessidade da separação[11]. O Deus que sai com esses homens não sai com os filhos de Terá, mas com o Seu escolhido, que também O escolheu. Ele o separa deles e o coloca em Sua presença enquanto sai com ele. O Deus, que no princípio era uma divindade guardiã de um homem, se tornará divindade de uma comunidade de homens, depois divindade de um povo e, finalmente, divindade dos povos; este Deus, que no princípio era a divindade de uma biografia pessoal e privada, se tornará a divindade da história; mas esta combinação, esta “correlação” de orientação e devoção, revelação e decisão, o amor de Deus pelo homem e o amor do homem por Deus, esta relação incondicional entre Ele e o homem permanece.
Nos estudos bíblicos contemporâneos, compreende-se cada vez mais que os patriarcas “alcançaram sua posição na tradição da história israelita, especialmente em virtude de seu trabalho como receptores de uma revelação e fundadores de um culto”[12]. Em particular, Abraão é reconhecido como “iniciador” e “precursor” de um movimento religioso (mas eu não o descreveria como “espiritualista-monoteísta”) “que surgiu em conexão com a grande migração popular na primeira metade do segundo milênio”[13]. Os estudiosos estão começando a levar em consideração novamente os traços de uma comunidade com fé e culto, que são preservados na Bíblia, apesar da forte tendência de atribuir ao assunto apenas um caráter familiar: “as almas que eles haviam adquirido em Harã” (12, 5) podem estar ligadas àquela companhia dos “homens iniciados” (14, 14)[14]. A reunião e a santificação da comunidade primitiva aparecem como obra do fundador.
Qual é o nome do Deus desta comunidade? Não podemos decidir a partir da Bíblia por qual de Seus nomes e títulos Abraão se dirigiu a Ele. Talvez por “Eli” (meu el); pois esta divindade era certamente sua divindade, a divindade que se revelou a ele e o guiou. Talvez fosse “Elohai” (meu Elohim), pois somente por meio desta combinação plural-singular, na qual os semitas “condensavam a soma de toda a divindade”[15], ele poderia expressar o que estava em seu coração: “Tu que és tudo o que é divino para mim.” É quase certo que Abraão, ao falar de seu Deus, usou a frase “El Shaddai“, cuja etimologia desconhecemos (alguns agora pensam que seu significado seja “o habitante das montanhas”, mas também pode significar “o exaltado”)[16], mas aparentemente ela contém alguma sugestão de um mistério da relação entre a divindade e a família, pois em todos os versículos de Gênesis o nome está ligado à multiplicação da família pela divindade. Pode-se supor que o homem usou o epíteto “shaddai“, porque ele é encontrado em um versículo da Bênção de Jacó (49, 25), que é certamente antigo. E estamos justificados em supor que, no momento em que ele desejou apontar para Ele, por assim dizer, com sua voz, para proclamá-Lo de maneira entusiasmada, ele usou aquela “palavra tabu”[17], aquele “clamor divino”[18], aquela “gagueira”[19], “Yah” ou “Yahu” ou “Yahuvah“[20], isto é, “Ele!” ou “Este!” ou “É isto!” ou “Oh, ele!” Este som elementar era aparentemente comum às tribos semíticas ocidentais, que por meio dele insinuavam de forma misteriosa e entusiasmada à divindade cujo nome não podia ser designado; encontramos isso nesse sentido ainda no misticismo do Islã[21]. Era impossível chamar a divindade por esse som quando se dirigiam a Ele diretamente, porque se referia à terceira pessoa, mas era possível usá-lo ao proclamá-Lo[22]. É dessa proclamação (e não da oração) que se trata a história, que conta como os pais invocam o nome de YHVH (o narrador usa aqui a mesma expressão que o próprio YHVH usa, Êx 33:19; 34:5), depois de terem construído um altar ou plantado uma árvore sagrada (Gen 12:8; 13:4; 21:2; 26:25). Os destinatários da revelação caminham “diante” do Deus, anunciando Sua vinda (17, 124, 40; 48, 15), assim como o arauto caminha e chama diante do rei que se aproxima (cf. 1 Sam 2, 35).
Na terceira dessas proclamações, o nome YHVH é ligado ao epíteto “El olam“, que deve ser entendido como indicando “Deus dos tempos antigos”, ou melhor, “Deus da duração”[23], um epíteto adequado ao final da história sobre o juramento da aliança feito com o rei vizinho. De qualquer forma, o nome YHVH aqui não é um acréscimo posterior: encontra-se aqui algo da natureza de identificação, isto é, não apenas o Deus do orador é o Deus que o homem trouxe consigo. Quem vai com ele, é equiparado ao El familiar deste lugar, o El que ele encontrou ali, mas há uma sugestão aqui de que o poder da divindade do lugar é engolido e absorvido, por assim dizer, no poder da divindade vindoura, e isso é realizado chamando a divindade pela palavra tabu. Que o poder e a autoridade sobre este lugar são seus e têm sido seus desde a eternidade, embora de uma forma estranha — esta é a proclamação.
A identificação se torna ainda mais clara na história, cuja essência é certamente antiga (especialmente nos versos de bênçãos e juramentos), onde Melquisedeque, Rei de Salém e sacerdote de El-Elyon, “o Deus Altíssimo”, “traz” no “vale do rei” pão e vinho para Abrão, louvando-o e abençoando-o com o nome de El-Elyon, “fundador do céu e da terra”. E Abrão responde (no texto diante de nós, ele se dirige ao rei de Sodoma, mas no texto original ele certamente se dirigiu a Melquisedeque, tendo-se perdido o final do discurso original): “Levantei minha mão a YHVH, El-Elyon, fundador do céu e da terra” (aparentemente para ser completado como a resposta ao discurso de Melquisedeque: “Bendito seja YHVH, El-Elyon”: isto é, Abrão levantou a mão em nome desta bênção). Com isso se quer dizer: aquele a quem sirvo também é teu deus, mas, além disso, ele é “Ele” (“Yahu“)! O fato de esse ato sagrado mútuo ser preservado para nós na forma de uma história incidental certamente deve ser atribuído a tendências ligadas à casa de Davi para provar o mérito de Jerusalém como centro de culto do mundo[24], mas a tradição parece absolutamente confiável do ponto de vista da história da religião. O conceito de criador do céu e da terra é conhecido por nós desde as antigas religiões orientais e outras como um conceito inicial. E esta palavra “fundador” ou “autor” ocorre em um sentido sexual (cf. Gen 4, 1)[25] em um dos textos de Ras Shamra como um epíteto de Asherat, esposa do deus altíssimo, chamada de “autora dos deuses”, isto é, progenitora dos deuses, e à luz disso, os relatos gregos posteriores do fenício Elyun como pai o céu e da terra parecem confiáveis. “As gerações do céu e da terra”, que segundo os cananeus são gerações reais, são ouvidas novamente na história bíblica da criação (Gen 2, 4), tendo o conteúdo sexual sido removido, e creio que temos o direito de ver no ditado “estas são as gerações do céu e da terra: seu ser criado”, uma espécie de polêmica contra a cosmogonia sexual dos cananeus.
O significado torna-se ainda mais claro na história que temos, em uma forma curiosamente circunstancial (16, 13), de Hagar; depois que o “mensageiro de YHVH” (isto é, uma hipóstase primitiva da interferência divina) lhe falou, ela invoca “o nome de YHVH que lhe falou: Tu és El Roi“. Era preciso expressá-lo dessa forma para que a identificação, crucial aqui, pudesse ser reconhecida. O narrador aqui de forma alguma traz YHVH para uma história contada sobre uma divindade na “religião El pré-mosaica”, como alguns pensam, mas YHVH, por assim dizer, anexa o El. Por Sua própria aparição e ação, Ele mostra que este “Deus da visão” é idêntico a Ele mesmo, a divindade que vagueia e sai com a jovem egípcia em fuga, membro de Sua comunidade, para o deserto, e se deixa ver por ela. A designação “El-Roi” aponta para uma divindade primitiva ligada a uma espécie de “incubação”: todo aquele que se deitasse para descansar junto ao poço de Deus “teve” uma visão. A história da revelação mostra como a divindade guardiã se revela aqui como tal. Assim que tal história circula, toda a tradição anterior é absorvida e absorvida pela nova tradição, que é fixada no tempo, e doravante o poço é o poço do Deus vindouro.
Conhecemos da religião babilônica e egípcia a inclinação para enfatizar a crença na supremacia de um deus a tal extensão que todos os demais deuses são entendidos como Suas manifestações. Mas no imenso panteão não houve nenhuma tentativa de concretizar isso com toda a seriedade; na verdade, tal tentativa não poderia ser feita. Somente na atmosfera de fé em um Deus solitário, exclusivo e zeloso, conduzindo Seus fiéis e exigindo sua devoção para fora do panteão, a identificação poderia se tornar real. Uma divindade vindoura como essa não poderia reconhecer nenhum domínio no universo ou na vida em que pisasse, permanecendo fora de Seu domínio; quem quer que tivesse posse do lugar e da esfera era forçosamente deposto de seu trono, ou era claramente mostrado como o substituto da divindade vindoura, ou mesmo identificado com essa mesma divindade. O El semítico geralmente não é nitidamente individualizado. Entre os semitas orientais, a forma do El torna-se tão indistinta que se aproxima de um “ser celestial em geral”. Entre os semitas ocidentais, o El condensa-se e se desenvolve de uma substância informe, dispersa, porém poderosa, para uma essência pessoal poderosa, porém, não nitidamente definida[26]. Ele aparece onde quer que um poder prevaleça (sua forma mais pessoal, o um tanto indolente El fenício, senhor dos deuses, como o conhecemos das tábuas de Ras Shamra, o “pai da humanidade”, aparentemente está fora desta esfera histórica). Essa divindade indefinida estava contente em ser subjugada por um El vindouro, que era totalmente pessoal, e que para Seus adoradores era a única personalidade divina, estando sempre “com eles”. Não havia necessidade de uma guerra entre Ele e os deuses. Foi somente com os Baalim, ou “o Baal“, que uma longa e amarga luta eclodiu; em oposição à divindade única que chega a Canaã sem cônjuge, havia aqui uma sexualidade obstinada que, em toda a sua natureza, se opunha à Sua liderança.
Da tendência à identificação — e deve ser considerada como uma questão de tradição em si e não, em nenhum sentido, como um dispositivo literário — encontramos também uma explicação para o estranho versículo (31, 53), há muito tempo objeto de diferentes opiniões, no qual Labão confirma a aliança de paz que faz com Jacó: “Que o Deus de Abraão e o Deus de Naor julguem entre nós, o Deus de seus pais!” As últimas palavras não são uma adição posterior baseada na oposição ao “paganismo” do contexto, mas significam que o arameu reconhece pelo menos — visto que não se poderia supor que aceitasse para si a religião de YHVH — que os dois deuses, designados por nomes diferentes, são de fato um, a divindade que o pai de família já havia indicado. Alguns estudiosos, em suas investigações, encontram aqui, erroneamente, indícios da sutileza teológica de tempos posteriores; trata-se de um tipo particular de pensamento religioso primitivo. O livro de Jonas mostra como a forma de um “universalismo” tão primitivo foi transformada por um grande teólogo e grande poeta em uma atmosfera tardia de anseio por renovação.
Albert Alt, em seu livro “O Deus dos Patriarcas”, comparou os epítetos Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó com epítetos divinos semelhantes em inscrições transjordanianas da era nabateia, e concluiu que o significado do epíteto “deus de fulano” é o mesmo em ambos os lugares: a divindade que este homem foi o primeiro a adorar, o deus anteriormente desconhecido que se revelou a este homem e, portanto, é designado entre os adeptos deste homem como seu deus. Alt corretamente enfatiza[27] que aqui “brota o primeiro broto de um fenômeno totalmente diferente daquele que encontramos nas divindades locais e da natureza: não há apego do ser divino a uma pequena ou grande parcela de terra, mas sua aliança com a vida humana, primeiramente a um indivíduo e, posteriormente, por meio deste, a todo um grupo.” Ele enfatiza corretamente[28] “a relação desta divindade com grupos genealogicamente ligados, famílias e tribos”, e neste ponto ele[29] indica que “a tendência para o social e o histórico” corresponde às condições de vida das tribos nômades. Mas ele está errado quando diz que devemos reconhecer nos três epítetos peculiares a cada um dos patriarcas — escudo de Abraão, temor de Isaac e paladino de Jacó — três deuses, deuses de três revelações. Quando Labão na história (também citada por Alt) menciona, além do Deus de Abraão, o Deus de Naor, isso não significa que Naor também tenha sido o destinatário de uma revelação de uma nova divindade. Dois tipos essencialmente diferentes de epíteto divino têm a mesma forma: a designação após o primeiro destinatário, e a designação após alguém que, possuindo uma tradição sobre este deus, expressa por um novo epíteto sua relação pessoal com ele como uma relação da maior importância para si mesmo e seus companheiros. Alt apresenta em seu livro uma inscrição tumular do século IV d.C., na qual um homem chamado Abedrapsas proclama sua crença em uma divindade, que ele designa pelo nome de “deus de Arcesilau”, mas que também lhe aparece. Uma descrição de “deus de Arcesilau e deus de Abedrapsas” não teria sido inadequada na boca de alguém de uma geração posterior. Isaac proclama sua fé no Deus de Abraão, que também é seu próprio Deus de uma maneira especial, baseada na experiência de vida, e, portanto, é assim chamado, e assim por diante. Portanto, pode-se dizer: eles não são três deuses, mas um, uma grande divindade da estrada, que acompanha seus crentes em seu caminho de vida antes de acompanhar “Seu povo” em seu caminho de vida. O Deus, que mais tarde será proclamado pelo nome “YHVH” (ou seja, Aquele que está lá), Ele é a divindade agora indicada pelo som elementar “Ele!”: Ele não habita no Monte Sinai e espera, mas Ele já vai, conduz, está presente.
Tradução do inglês a partir da edição: BUBER, Martin. The God of The Fathers. In: The Prophetic Faith. New York: Harper Torchbooks, 1960, pp. 31-42.
[1] Cf. Budde, The Nomadic Ideal in the Old Testament [O Ideal Nômade no Antigo Testamento], The New World IV (1895), 726ss; Flight, The Nomadic Idea and Ideal in the Old Testament, [Voo, A Ideia Nômade e Ideal no Antigo Testamento], Journal of Biblical Literature XLII (1923); McCown, The Wilderness of Judea and the Nomadic Ideal [O deserto da Judéia e o ideal nômade], Journal of Geography XXIII (1924), 333ss; Humbert, La logique de la perspective nômade [A lógica da perspectiva Nômade], Marti Festschrift (1925), 158ss; Albright em Lovejoy e Primitivism and Related Ideas in Antiquity [Boas, Primitivismo e Ideias Relacionadas na Antiguidade] (1935), 428ss.
[2] Gressmann, Sage und Geschichte in den Patriarchenerzaehlungen, Zeitschrift fuer altestamentliche Wissenschaft [Lenda e História nas Narrativas Patriarcais, Revista de Estudos do Antigo Testamento], Neue Folge XXX (1910), 28.
[3] Cf. o comentário de Rashbam [Samuel ben Meir, mais conhecido como “Rashi”].
[4] A palavra “caldeus” é, na minha opinião, um acréscimo posterior, da época posterior à chegada dos caldeus a Ur. Um editor posterior aparentemente considerou o epíteto “Ur dos caldeus” na boca de Deus um anacronismo e corrigiu o texto “da terra dos caldeus”, que era anterior aos tradutores da Septuaginta (portanto, eles traduziram 11, 28, 31, 50 da mesma maneira). Apesar dos argumentos que foram ouvidos ao longo dos séculos, não há razão para duvidar da identificação desta Ur com a cidade no sul da Babilônia, conhecida por nós através das escavações.
[5] Toynbee, A Study of History III [Um Estudo de História III] (1934), 14.
[6] Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament [As inscrições cuneiformes e o Antigo Testamento], 3rd edn. (1903), 29.
[7] Dhorme, Abraham dans le cadre de I’histoire [Abraham no quadro da história]. Revue Biblique XXVII, 509.
[8] Erman, Die Literatur der Aegypter [A Literatura do Egito] (1923), 22Sf, 235
[9] Woolley, Abraham (1936), 104, 226.
[10] Doughty, Travels in Arabia Deserta I [Viagens no Deserto da Arábia I], ch. 13.
[11] Cf. Winckler, Abraham als Babylonier [Abraham como Babilônico] (1903), 2Sf.
[12] Alt, Der Gott der Vaeter [O Deus dos Patriarcas], 52.
[13] Boehl, Das Zeitalter Abrahams [A Era de Abraham] (1931), 42.
[14] Yahuda, Die Sprache des Pentateuchs I [A Linguagem do Pentateuco I] (1929), 282, conecta os “hanikhim” com os três confederados de Abraão mencionados no v. 13; mas não é provável que a palavra “wayareq” (e ele esvaziou) tenha sido usada para confederados; nem a variante samaritana “wayadeq” (e ele examinou) se aplica a confederados.
[15] Dhorme, L’evolution religieuse d’Israel I [A Evolução Religiosa de Israel I] (1937), 360.
[16] Mas há também aqueles que recorrem novamente ao significado de “essência do poder”. Cf. Nyberg, Studien zum Religionskampf im Alten Testament [Estudos sobre a Luta Religiosa no Antigo Testamento], Archiv fuer Religious Studies XXXV (1938), 350.
[17] Bauer, Die Gottheiten von Ras Schamra [As Deidades de Ras Shamra], 84. Cf. also Hehn, Die biblische und
die babylonische Gottesidee [O Bíblico e Ideia Babilônica de Deus] (1913), 248.
[18] Rosenzweig, Der Ewige [O Eterno], in Buber-Rosenzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung [As Escrituras e Sua Germanização], 207. Cf. G. R. Driver, The Original Form of the Name Jahweh [A Forma Original do Nome Yahweh], Zeitschrift fuer alttestament Uche Wissenschaft, Neue Folge v (1928), 24.
[19] Schleiff, Der Gottesname Jahu [O Nome de Deus Jahu], Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft [Jornal da Sociedade Oriental Alemã] XC (1936), 700.
[20] Cf. Frito. Delitzch, Wo lag das Paradies? [Onde estava o paraíso?] (1881), 166; Koenig, Ja-u e
Jahu, Zeitschrift fuer Alttestamentliche Wissenschaft XXX (1915), 45, e também as declarações de Mowinckel em R. Otto, Das Gefuehl des Ueberweltlichen [A sensação do sobrenatural], 236.
[21]Cf. e.g., Nicholson, Selected Poems from the Divani Shamsi Tabriz [Poemas Selecionados de Divani Shamsi Tabriz] (1898), 127, 282.
[22] Cf. Koenigtum Gottes [Realeza de Deus], 237-53.
[23] Nos textos de Ras Shamra, o deus supremo é chamado de “rei, pai dos anos”.
[24] Die Schrift und ihre Verdeutschung [A escrita e sua germanização], 2 35. É irrelevante se o narrador, responsável pela própria tradição, já se referia a Jerusalém por “Salém”; se a identificação expressa pelo Ps. 76, 3, EV 2, provém de uma tendência posterior, esta dificilmente pode ser outra que não a davídica.
[25] Encontramos este verbo em sentido sexual na Bíblia não apenas em uma passagem tão antiga como esta, mas também em uma posterior, como Deut 32, 6, onde não há dúvida de que o autor não sentia mais o sentido sexual da palavra. Pode-se presumir que o significado sexual do verbo era a procriação da criança por seus pais, em contraposição aos verbos que expressam apenas o dar à luz ou apenas a geração.
[26] Brockelmann, Allah und die Goetzen [Alá e os Ídolos], Archiv fuer Religionswissenschaft XXI (1922), 120f, também vê o Alá pré-islâmico como essencialmente idêntico “àquela divindade que emerge na tradição de Israel na forma do El Olam e do El Elyon das histórias patriarcais”.
[27] Alt, op. cit., 41.
[28] Ibid.
[29] Ibid., 46.
Estevan de Negreiros Ketzer é Psicólogo clínico (PUCRS). Mestre e Doutor em Letras (PUCRS). Pesquisador nos arquivos do IMEC na França, em 2015. Assessor da Uniritter para a implementação da disciplina de Escrita Criativa ao ano de 2016. Pesquisador do Núcleo de Estudos Judaicos (NEJ) da UFMG. Pós-doutorando em Letras (UFMG).
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/





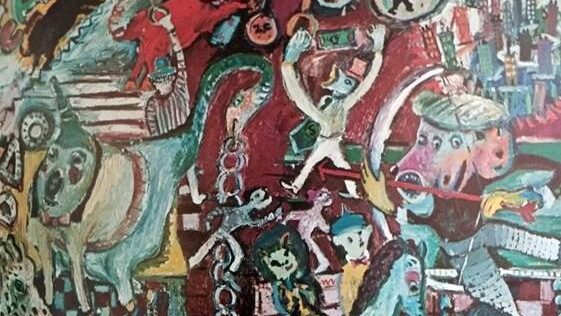
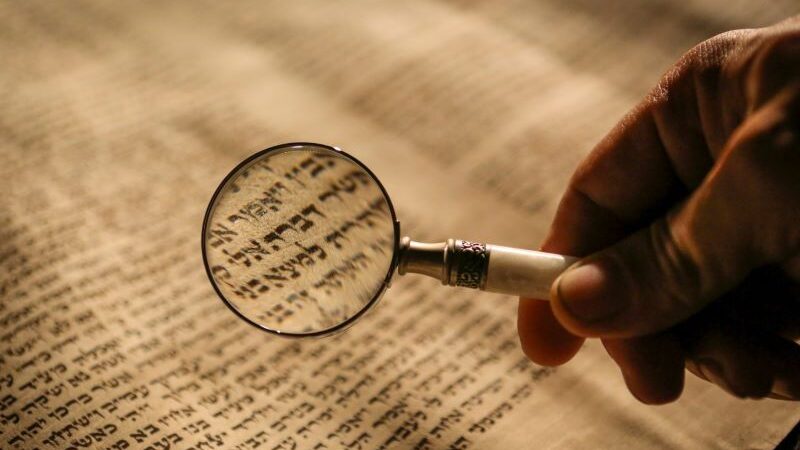
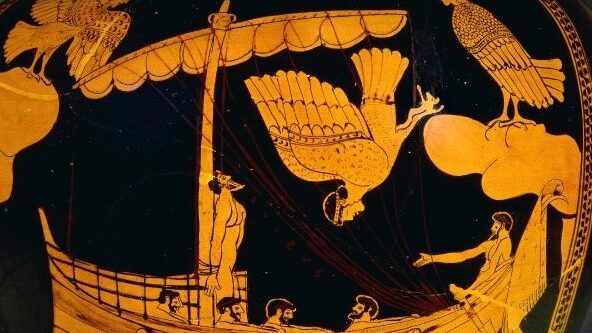

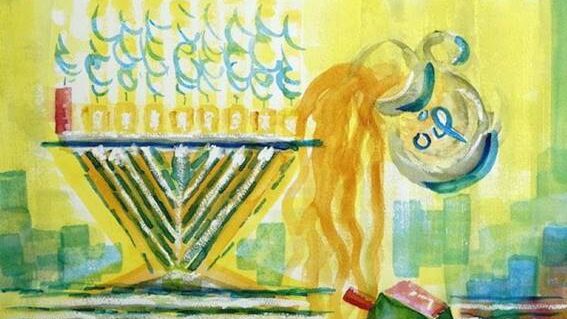
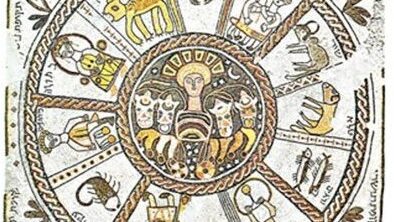
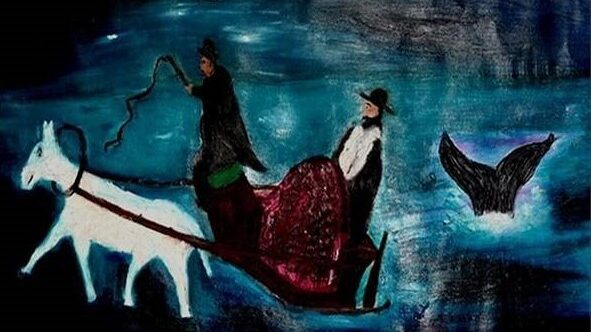


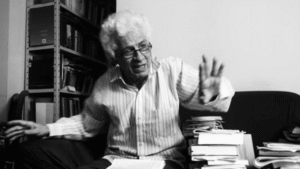
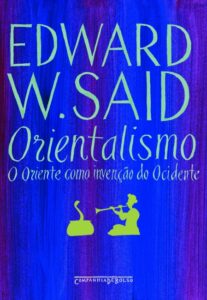

Um comentário
“O Deus dos Patriarcas” é um texto denso, provocador e de grande erudição, que alia filologia, história das religiões e uma sensibilidade filosófica única. A tradução de Estevan Ketzer mantém a força do original. O ensaio oferece uma alternativa sólida ao simplismo evolucionista comum a certa historiografia bíblica, realçando a originalidade e profundidade da experiência patriarcal hebraica. É leitura imprescindível para quem busca compreender os fundamentos do monoteísmo, o papel da tradição patriarcal e a tensão entre pessoal e coletivo no percurso religioso de Israel – e, por extensão, no imaginário cultural do Ocidente.