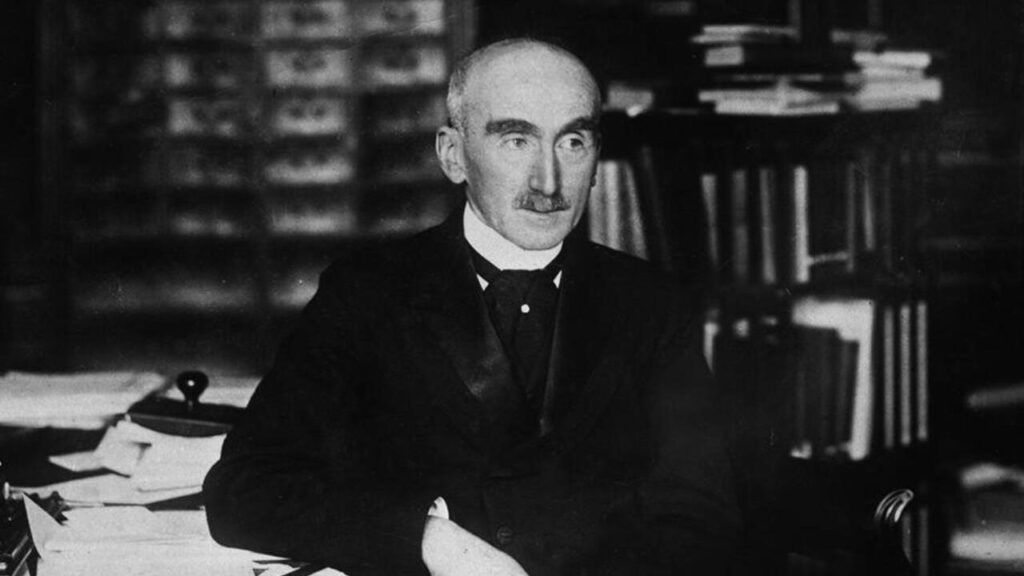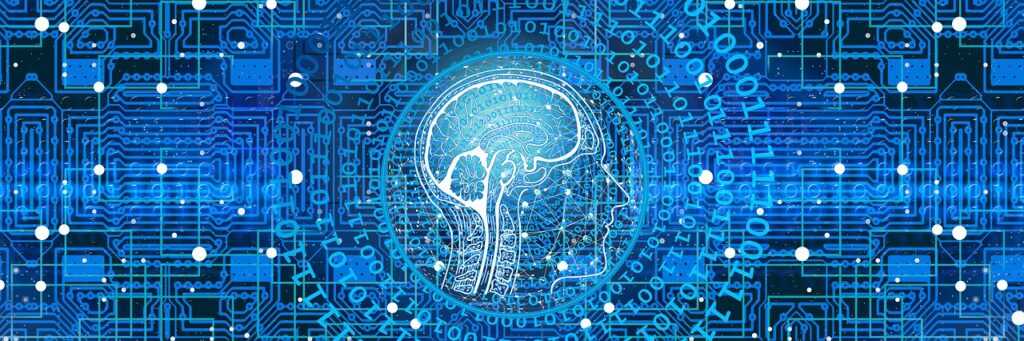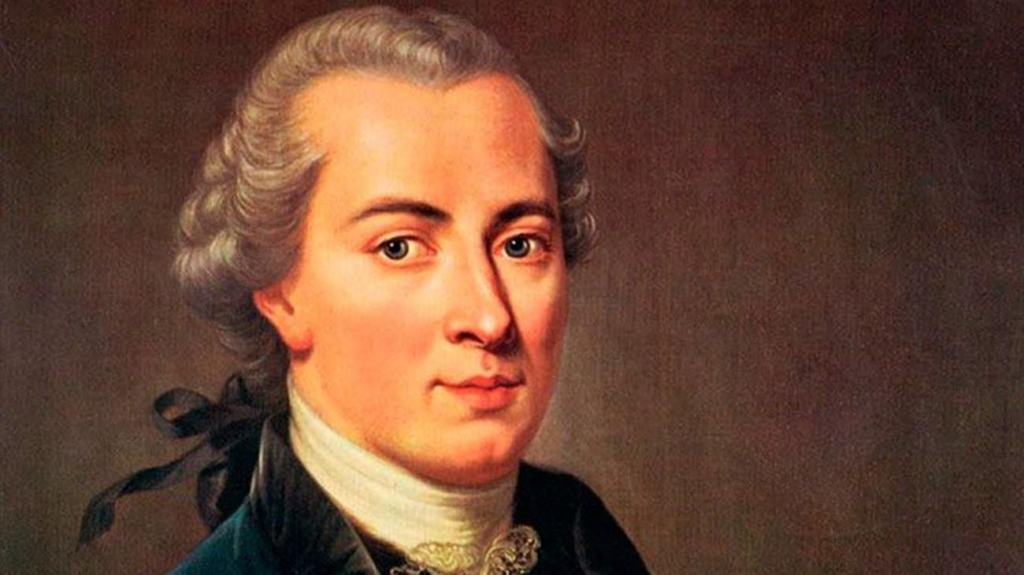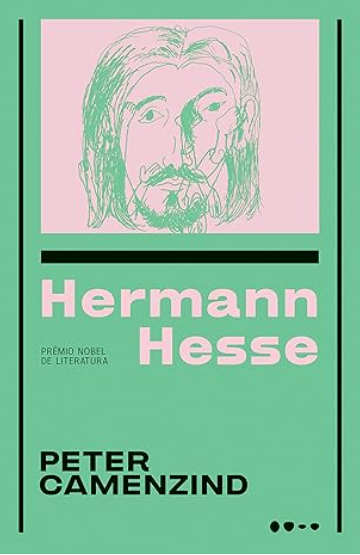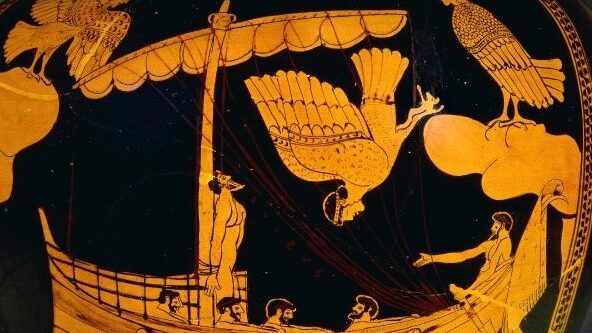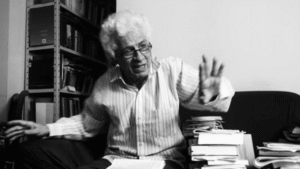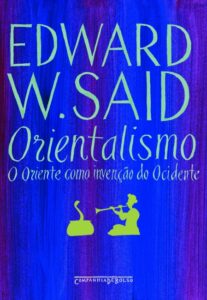O que me chama atenção e me faz pensar, uma vez que parece ser parte do sentido da minha vida, é o quanto certas situações deveriam ser enfrentadas com a maturidade da espera e da paciência, para ler os sinais e tomar a ação adequada frente ao desafio.
Estevan de Negreiros Ketzer
Psicólogo clínico (PUCRS). Doutor em Letras (PUCRS).
Em grego chamamos a verdade de aletheia, ou a ausência do erro (lethos). A busca da verdade não apenas faz parte da busca da humanidade por um desenvolvimento maior. Se não entendermos bem aonde estamos nessa busca, qual é o nosso papel e como vamos abordar o conhecimento da forma que mais nos sentimos à vontade, ele será inútil, um peso, algo completamente sem sentido e até mesmo esquecível. O conhecimento que temos, o qual vamos construindo com o passar dos anos, não deve ser apenas algo puramente palpável, mas deve compor junto aos estudos, como uma forma de refinamento tanto de nosso pensamento quanto de nossas ações.
Os motivos que vi muitos colegas desistirem parece ser justamente esse: não encontraram tanto os seus caminhos da vida, tampouco houve disponibilidade deles para permitirem o desconhecimento habitá-los de forma a ser uma prolongada interrogação. Esse elemento eu entendo como fundamental, pois leva também a que cada um possa com os seus próprios pés encontrar o chão que lhes dará firmeza para começarem esse empreendimento. Isso também diz respeito a um lugar de solidão que deve ser construído com o passar dos anos. A solidão fundamental, a qual cada um se reclina para que possa aprender a ser realmente uno consigo, a conhecer as vontades, os jeitos, os tempos, cujo detalhamento deve ser revestido de boa intenção, mesmo que haja momentos de sofrimento nesse estado. Aliás, para aquele que se dedica a estudar, o sofrimento é ainda maior, pois o estudo não significa um imediato conhecimento da coisa estudada. Ele é principalmente um tempo de investigação e, como tal, o mais importante é mater a capacidade de análise firme, não se sujeitando a abreviações ou quaisquer facilitações.
Algo que é de extrema importância sobre o estudo também se firma na tentativa de aproximá-lo de nossas vidas. Eu trarei como exemplo minhas leituras de Ética a Nicômaco de Aristóteles (2014), livro que vejo como um profundo divisor de águas em minha formação intelectual. Durante a leitura dele eu percebi elementos preciosos sobre a importância das grandes virtudes cardeais. A coragem (andrea) também vem de praticarmos a generosidade. Essa generosidade verdadeira vem em momentos que justamente não estamos preparados ou não sabemos bem o porquê de praticá-la. Eu mesmo não entendia o quanto estava sendo testado pela vida no momento em que lia o livro: “por que estou a passar por tais problemas? São tão simples de serem resolvidos… Por que de repente eu não consigo mais sentir as coisas?” Eu recordo que essa dificuldade de sentir, quase uma paralisia, estava diretamente ligada a não conseguir me desprender de velhos padrões que me deixavam inseguro e com medo. Como fazê-lo? O livro chegou justamente em momento que a mente não conseguia mais de maneira clara estabelecer uma conversa generosa. Ser generoso, poder dar sem temer perder… Oh, desafio! O aprendizado disso não vinha de estabelecer bons vínculos com amigos, mas sim de voltar-me a minha família, olhar em seus olhos, agradecer, dar mais atenção a seus problemas, tentar conversar mais, com mais respeito… Não me sentir incomodado ou agredido, pois muitas vezes a nossa interpretação dos fenômenos familiares nos levam a lugares pontos cegos sobre nossas vidas, como se esperássemos uma reação que sempre devemos fazer do mesmo jeito. A derradeira forma de quebrar esse ciclo vem de um lento aprendizado sobre como meus gestos podem ser melhores, mais generosos, sem medo de com isso haver qualquer tipo de desorganização.
O alento de ler Aristóteles era justamente de poder “Agir de acordo com a justa razão” (anagkaion episkepsasthai tá perí tás práxeis) (ARISTÓTELES, 1103b1) e com isso encontrar algo que deveria necessariamente ser vivo, forte como uma caminhada em um dia quente, uma forma de existir sem os supostos medos de outrora. Sim, coragem seria então eu me dispor a enfrentar com algo completamente novo na vida: a mediania (tó mesón). Pois a mediana é um valor que não sabemos até encontra-lo. Isso se explica, pois, estar na mediania é estar diante de um ponto da vida que você pode ser você do estado de potência (dînamis) para o de ato (práxis). Quer dizer, ser eu mesmo sem medo, o que não significa ser puramente suscetível ao outro. Esse centro exigiu muita maturidade. O ensino de Aristóteles me mostrou isso de maneira visceral e completamente tangível pela razoabilidade prática de seu ensino.
“Eu me refiro à virtude moral” (légo dé tén ethikén) (ARISTÓTELES, 1106b1), pois pensamos ser a virtude (areté) uma excepcionalidade entre os comportamentos. Não, ela não é. Ela opõe-se ao vício (kakía), certamente, pois é seu inverso, visto ser ela uma desregulação da moral. Aristóteles vê na mediania o próprio lugar da virtude, não devendo ser exagerada a ponto de trazer arrogância, tampouco cair em lassidão, a qual gera a falta de ação. Tal como a afinação da corda de um violão, estar afinado é estar na frequência adequada. O adequado é o suficiente e nada mais. Disso eu entendo como é bom, faz bem para mim, buscar um gesto simples, mas profundamente verdadeiro. Caso contrário, ele pode facilmente se corromper quando falo de algo que não vivi ou não senti dentro de mim. Essa noção da referência interna é imprescindível e ela deve ser como uma guia frente aos nossos medos, a exigir coragem para darmos passos mais largos, as quais são parte crucial de nossas vidas. “Com respeito ao medo e à autoconfiança, a mediania é coragem” (ARISTÓTELES, 1107b1). E nesse itinerário das dores humanas rumo à libertação o filósofo de Estagira nos traz o quanto o perdão (síggnomes) é parte imprescindível para o exercício da boa ação moral. Não vejo o perdão como algo simples. Ele me parece antes a última etapa de um grande e tenso caminho em que temos de soltar a parte que nos traz uma tristeza da alma por não conseguirmos mudar o destino (moira) por partirmos desse ponto cego de nossas vidas. Logo, o afastamento se faz necessário.
“Cada indivíduo julga corretamente o que conhece, sendo disso um bom juiz” (Ekastos dé krinei kalos á ginoskei, kai toíton estin agathos krites) (ARISTÓTELES, 1094b1). Essa exigência de ser criterioso com algo passa pela educação (paideimenos), uma educação completa (pan), como o filósofo completa. Educar um ser humano passa por ele administrar suas paixões (páthos) pelo uso da razão (logon), o que, ao fim e ao cabo, deve levar o homem para o governo da felicidade (eudaimonían). Acerca dessa finalidade ilustre de Aristóteles cabe notar que o termo Eudaimonia é muito mais do que felicidade no sentido que conhecemos hoje, mas sim uma grandeza da alma, um estado ativo de prosperidade o qual decorre justamente da boa educação. A boa educação tem de levar seus frutos para a vida, impreterivelmente, e transcender sua esfera quando diante a vida em sociedade, na qual o bem público deve ser gerado como um princípio, tal como no investimento das virtudes (aretés), portanto, a excelência em uma qualidade humana. O termo aristocrata deriva justamente do melhor entre os homens, aquele com treino e faculdade adequada para tomar boas decisões que também serviriam para a política.
Eu noto também o quanto a leitura esteve em momentos muito importantes para serem firmados como um marco de compreensão de novas capacidades, talvez em estado latente, talvez não vislumbradas por mim em um primeiro momento de apreciação. Um modelo de restauração da própria identidade cintila em meio a atmosfera deturpada de uma vida daninha. Restaurar é justamente trazer esse elemento antigo e valoriza-lo a ponto de tornar-se bom na medida que entendemos seus princípios e finalidades. Isso tem sido de uma mudança fundamental no que diz respeito a investigação filosófica, a qual não se dá pelo usufruto de um dispositivo de repetição ou uma verborragia de nomes e conceitos. Esse tipo de empreendimento é tão daninho a ponto de prejudicar o verdadeiro encontro com as nossas disposições pessoais na investigação verdadeira. A investigação, tal como a coerência do quão custoso é pensar, deve nos levar a considerar os erros produzidos pelos pontos cegos de nossa educação e esse fator tem de ser simplificado com bons professores que mostrem com rigor e generosidade aonde estamos na cadeia de conhecimentos da humanidade. Não apenas isso, mas é também olhar a parcela de importância dada a atividade de pensar, a qual não deve nunca levar a um enquadramento perfeito, mas sim a algo profundamente humano de um esforço idiossincrático sobre quem somos e nosso lugar no mundo. A confusão entre pensar e categorizar me parece a mais complexa do modelo educacional atual, o qual confunde profundamente as duas criações. Esse resultado, profundamente perverso, tem trazido uma multidão de ignorantes e preguiçosos ao nosso convívio diário, a ponto de nos imiscuirmos com isso e não conseguirmos mais desenvolver a função do “eu” biográfico, o qual é muito mais profundo do que apenas o eu moderno da dúvida racional cartesiana.
Portanto, trazer um modelo de educação clássico deve ser buscar em nossa biografia, tanto no passado sobre nossa existência, quanto no futuro do que alçamos para o nosso melhor, a figura da ação no tempo presente. A necessidade de um bom professor, capaz de mediar o conhecimento de maneira aprofundada, dedicado a arte do ensino, ao reconhecer um modo de comunicação tanto com suas necessidades básicas e assim reconhecer as necessidades básicas do aluno, o que leva a entender também aonde o aluno está no mundo do conhecimento, são fundamentos para a educação em todos os tempos. Ao levar para vida o conhecimento e suas nuances, em cada detalhe, é mais do que importante entender a musicalidade do ensino, por isso aprender na forma de pequenas histórias e músicas, pela fábula a qual fala tanto de nós a ponto de não podermos ficar inertes ou distantes das emoções. Essa fala a ressignificar em cada um a restauração das forças adormecidas para um benefício que sirva a toda a humanidade em algum grau ou circunstância específicos. Bom, mas isso é assunto para a continuação desse texto! Eis o fundamento que começa a pensar mais uma vez.
Referências:
ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2014.
Estevan de Negreiros Ketzer é Psicólogo clínico (PUCRS). Mestre e Doutor em Letras (PUCRS). Pesquisador nos arquivos do IMEC na França, em 2015. Assessor da Uniritter para a implementação da disciplina de Escrita Criativa ao ano de 2016. Pesquisador do Núcleo de Estudos Judaicos (NEJ) da UFMG. Pós-doutorando em Letras (UFMG).
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/
- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/